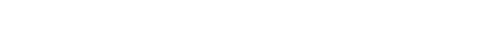Evito cemitérios. Não chega a ser uma coimetrofobia como a de Jorge Amado, que nem depois de morto entrou em um deles, já que pediu para ser cremado. Mas há uma certa repulsa pelos chamados campos santos e compromissos fúnebres.
No campo da esperança é ainda pior, porque é preciso se desviar das covas que são marcadas apenas por uma plaquinha. Não fica bem pisotear aquele chão, mesmo sabendo quer teve muito osso tirado dali, numa transação das mais tenebrosas.
Só que não há como fugir sempre. E foi assim que eu descobri que não há mais lágrimas nos velórios.
Faço aqui uma ressalva: não foram enterros de crianças ou jovens, quando o luto se mistura à revolta; eram todas pessoas mais velhas, mas dignos do respeito que normalmente é traduzido pelo choro sentido das pessoas próximas.
Ao contrário, deu para observar que as pessoas se cumprimentavam com certa alegria e efusividade, mesmo naquele ambiente contrito. No caso daqueles que não se viam há mais tempo havia abraços e conversas animadas. Era quase uma festa para colocar assuntos em dia.
De certo modo é compreensível. As pessoas têm o direito de celebrar a vida, ainda mais diante de um finado que, por mais próximo e querido que seja, passou dessa para uma melhor – isso, conforme o eufemismo que, como carece de comprovação, me faz preferir o pior daqui mesmo.
Mas senti falta das lágrimas. Havia rostos tristes, mas secos, áridos. Havia alguma pungência, mas ainda acredito que o desespero faz parte do momento solene final, talvez por lembrar de uma passagem da minha tenra puberdade.
No interior de Pernambuco, fui levado ao velório de alguém importante. O caixão com o corpo foi deixado no centro da sala cheia de gente que olhava respeitosamente, enquanto três senhorinhas vestidas de preto choravam copiosamente – chegavam a soluçar.
Assim como o riso, o choro é contagioso. E todas as mulheres presentes vertiam lágrimas; os homens, não, porque naquele tempo homem não chorava, ainda mais no agreste pernambucano.
As três carpideiras faziam um trabalho notável; não sei se chegaram a conhecer o homem estirado, mas se comportavam como inconsoláveis viúvas, facilitando a vida de quem queria mostrar algum sentimento.
É uma profissão antiga, vem de antes de Cristo; há registros de profissionais do luto em Tebas (Egito), são personagens de Samuel e Jeremias, no Novo Testamento, e chegaram ao Brasil com os portugueses que, sabemos, adoram um vestidinho preto e uma canção triste.
Eram presenças do tempo em que o velório durava toda a noite, num rito que durava até a hora do enterro. É uma profissão em extinção. Hoje as carpideiras resistem apenas como personagens de teatro e cordel do que na vida real.
“Toda noite de lua cheia/ Corria na cidadela/ Que a coisa era muito feia/ Quem via era presa dela/Nunca dei pelo assunto/ E quem chora por defunto/ É carpideira banguela”, narra Hélio Pequeno, no Cordel Assombrado.
Talvez a vida esteja tão dura que ninguém mais quer mais pagar por lágrimas.
Publicado no Correio Braziliense em 28 de setembro de 2018