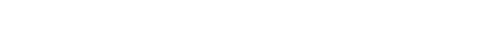Histórias nascem muitas vezes de um pequeno fragmento que fica martelando na cabeça ou está anotado em algum lugar. O finado Erasmo Carlos confessou que mantinha vários cadernos com registros e recortes que ele folheava constantemente em busca de ideias para desenvolver; coisas mal resolvidas em algum momento e que precisavam de maturação, esperando sua vez de virar canção.
Em Woody Allen – A Documentary, filme com quatro horas de duração, o diretor norte-americano mostra seu método de trabalho para escrever um novo roteiro: uma pilha de recortes de papel guardada ao lado da velha máquina de escrever, anotações que para qualquer um não fazem muito sentido, mas para ele são histórias completas.
Ele cita um exemplo. “Um homem herda todos os truques de um grande mágico” – a partir daí, Allen cria um universo – sempre repleto de neuroses e outros medos, claro – que viram filmes inesquecíveis ou não, mas sempre relevantes; e vem fazendo isso há 40 anos, numa produção inigualável. Imagine que um pé de vento ou uma faxineira trapalhona poderiam ter matado uma obra-prima ainda na origem.
O galês Ken Follet escreveu um romance de quase 400 páginas – Um Lugar Chamado Liberdade – a partir de um aro metálico que encontrou numa caixa desenterrada do jardim de uma casa que ele havia comprado. Uma inscrição – “Esse homem é propriedade de Sir George Jamisson, Condado de Fife, AD 1767” – desencadeou uma história inteira.
Quando entro numa livraria ou biblioteca uma mesma pergunta vem à cabeça: Com tantos livros aqui, será que ainda existe alguma história ainda a ser contada? Mas é só abrir um volume que a dúvida se esvai; uma história – como na narrativa de Sherazade – puxa outra.
Eis que o senhorzinho queria me conhecer. Eu disse que era perda de tempo, mas o encontro aconteceu e ele perguntou porque eu não lançava um livro. Imagino que todo mundo que lida com palavras – lendo ou escrevendo já imaginou colocar uma história no papel, transformá-la num romance que certamente mudaria o mundo com uma narrativa.
Quando mais jovem, imaginei mostrar meu retrato feito cão. Também tentei transformar pequenos pileques em textos. E imaginei registrar delírios em narrativas brutas, contar histórias que só eu enxergava, ainda que elas não tivessem a menor importância, sem qualquer exercício de estilo. Desisti. Ninguém ia querer ler uma maluquice dessas.
Trabalhar com o ajuntamento de palavras é labor frustrante, ainda mais nos tempos obtusos e objetivos de hoje quando até os algarismos estão sendo reduzidos a dois: zero e um, os comandos da informática. E hoje todo mundo tem opinião sobre tudo. Viramos todos Caetano Veloso. Isso poderia bom, se raciocínios fossem desenvolvidos. E melhor seria se alguém lesse.
Dia desses encontrei um amigo, aspirante a escritor, mas que nunca mostrou seus originais para ninguém. “Porque tanto segredo?”, perguntei. “O que me tortura é a segunda edição”, respondeu. Não entendi e ele tentou ser mais claro: “Se meu livro encalhar não terei uma nova edição”.
Acho que ninguém vai sentir falta do livro dele.
Publicado no Correio Braziliense, em 15 de janeiro de 2023