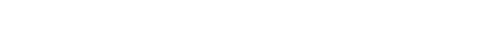Eu nunca havia entendido porque o cemitério de Brasília se chama Campo da Esperança. O dicionário ensina que esperança é a crença em que alguma coisa muito desejada vai acontecer e acho que posso falar pela maioria: embora seja inevitável, ninguém espera morar ali. Pelo menos não tão cedo.
O Zé Natal, que trouxe o primeiro ovo de seriema para Brasília, me explica que o nome é homenagem a uma escrava benzedeira chamada Esperança, morta há mais de 200 anos, vítima de lepra. Como os fazendeiros não queriam que ela fosse enterrada em suas terras, acharam um espaço onde hoje está o cemitério para fazer a cova. Pode ser lenda, mas ficou.
Há uma fascinação de algumas pessoas com essas necrópoles. Alguns são até atração turística. Certa vez, em Buenos Aires, preferi ficar tomando uma Quilmes numa tasca ao invés de seguir o alegre grupo de amigos que insistia – e foi – em visitar a Recoleta ver o túmulo de Rufina Cambaceres que, segundo a lenda, morreu duas vezes (se decepcionaram ao ver que há somente um túmulo).
O caso de Rufina – provavelmente vítima de catalepsia – é apenas uma das excentricidades portenhas, ao lado do coveiro que se suicidou só para inaugurar a tumba que construiu e da mulher que teve os restos mortais depositados numa urna feita com o ferro dos canhões do navio comandado pelo noivo, morto na guerra.
Mas a maior atração é o túmulo de Salvador del Carril e Tibúrcia, com as respectivas estátuas de costas uma para a outra, para lembrar que, embora casados, ficaram 30 anos sem se falar. Estranho é que haja só uma tumba assim no mundo.
Em Paris, tentaram me levar ao Père-Lachaise. Balzac, Proust, Jim Morrison, Piaf, Chopin, Molière e Oscar Wilde foram enterrados ali, onde há uma grande quantidade de estátuas, bustos e construções. Não fui. Só me interesso pelas obras deles, não pelos ossos.
Aliás, vou ao cemitério muito contrariado. Tenho amigos que adoram velório, contam piadas, lembram histórias do finado; vão ao barzinho, comem um salgado, voltam a conversar, riem mais um pouco, chegam perto do caixão, ficam encarando o corpo, falam das flores.
Recentemente, no enterro de um camarada, meu amigo estava evidentemente consternado. O morto era jovem, sofreu um infarto fulminante e o choque era generalizado. Quando é assim, algumas pessoas exageram, têm reações estranhas, que vão além do choro, da tristeza e da aflição.
Quieto no canto, meu amigo observava. Como eu, ele também não gosta de ficar encarando o corpo maquiado dentro do caixão. Mas via pessoas passando as mãos no rosto defunto, deitando a cabeça sobre o corpo, apertando as mãos frias. Achava tudo estranho, mas continuava na sua comiseração.
De repente, o mesmo grupo veio em sua direção. E ele sentiu as mesmas mãos que acariciavam o falecido, no rosto, cabelos, mãos, no corpo todo. Sentiu um comichão, até que consegui se desvencilhar e correr para o chuveiro de casa. Jurou que nunca mais vai ao cemitério. E já encomendou a cremação.
Publicado no Correio Braziliense em 6 de outubro de 2019