Tag: Brasil
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Em pleno século XXI, quando a democracia liberal enfrenta questionamentos no mundo inteiro, o Brasil revive um debate que deveria estar superado desde o século XVIII: é possível consolidar instituições que sejam maiores do que os homens que as ocupam? A pergunta não é trivial. Ao contrário, ela revela a raiz de nossa crise permanente. Desde a Proclamação da República, em 1889, o país parece oscilar entre promessas modernizantes e recaídas personalistas. Derrubou-se um imperador sob a bandeira do republicanismo, mas o que se viu, nas décadas seguintes, foi a consolidação de oligarquias regionais. Superou-se a política do café com leite, mas emergiu o centralismo varguista. A ditadura militar prometeu ordem e progresso, mas legou um trauma institucional profundo. A redemocratização reacendeu esperanças, mas não extinguiu o vício da personalização do poder.
Há mais de um século, o Brasil vive entre reformas e remendos. A teoria de Montesquieu, ao propor a separação e o equilíbrio entre os poderes, parte de uma premissa essencial: o poder deve conter o poder. Não se trata de confiar na virtude dos governantes, mas de criar mecanismos institucionais que limitem seus impulsos. A democracia não é o governo dos bons; é o sistema que presume a imperfeição humana e, por isso mesmo, estabelece freios, contrapesos e regras claras.
O resultado é previsível: instabilidade. Vivemos um tempo de radicalização política, judicialização excessiva da vida pública e descrédito generalizado. Parte da sociedade desconfia do Executivo; outra parte acusa o Legislativo de omissão ou fisiologismo; muitos veem no Judiciário um protagonismo que ultrapassa seus limites tradicionais. Cada poder acusa o outro de extrapolação. E a população, assistindo a esse embate, sente-se órfã de representação. A nação entendida como o conjunto vivo da sociedade não se reconhece plenamente no Estado entendido como a máquina institucional que deveria expressar a vontade geral.
Quando a representação falha, cresce o espaço para discursos salvacionistas. A cada crise, ressurge a tentação de apostar em um líder forte, capaz de “colocar ordem na casa”. Mas a história ensina que líderes fortes raramente produzem instituições fortes. Pelo contrário: costumam enfraquecê-las ainda mais. O paradoxo brasileiro é este: queremos estabilidade institucional, mas buscamos soluções personalistas. A própria Constituição de 1988, embora tenha ampliado direitos e consolidado garantias fundamentais, criou um sistema complexo e, por vezes, disfuncional. A fragmentação partidária dificulta maiorias estáveis. O presidencialismo de coalizão, necessário para governabilidade, abre espaço para negociações pouco transparentes. O Judiciário, chamado a arbitrar conflitos políticos, assume um papel que ultrapassa a simples aplicação da lei. Assim, o equilíbrio entre poderes torna-se frágil e sujeito a tensões constantes.
Não se trata de afirmar que as instituições brasileiras inexistem ou que a democracia esteja formalmente rompida. O problema é mais sutil e, por isso mesmo, mais grave: a erosão da confiança. Sem confiança institucional, a democracia transforma-se em disputa permanente de narrativas. Cada decisão é vista como manobra; cada interpretação constitucional é tratada como escolha ideológica; cada eleição é acompanhada de suspeitas. A política deixa de ser mediação de conflitos para tornar-se campo de batalha moral.
Nesse ambiente, ética e razão se distanciam. A ética pública baseada em princípios universais cede espaço à moral tribal, em que o certo e o errado dependem de quem pratica o ato. A razão institucional fundada em procedimentos é substituída pela emoção coletiva. O debate público degrada-se, e o diálogo torna-se raro. O Brasil parece, então, preso em um beco sem saída. Se aposta no fortalecimento de lideranças carismáticas, arrisca enfraquecer as instituições. Se transfere excessiva responsabilidade às instituições sem reformá-las, perpetua sua ineficiência. Se radicaliza o discurso político, aprofunda o distanciamento entre sociedade e Estado. E se busca consensos superficiais, apenas adia conflitos estruturais.
Como sair desse impasse então? A resposta não está em soluções mágicas, nem em rupturas abruptas. O caminho lento e menos sedutor passa pela reconstrução da cultura institucional. Isso implica fortalecer partidos programáticos, reduzir a fragmentação política, aprimorar mecanismos de transparência e responsabilização, e delimitar, com clareza, as competências de cada poder. Implica também um esforço educativo e cultural. Democracia não é apenas procedimento jurídico; é hábito.
A frase que foi pronunciada:
“Na minha opinião existem dois tipos de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam para buscar.”
Érico Veríssimo
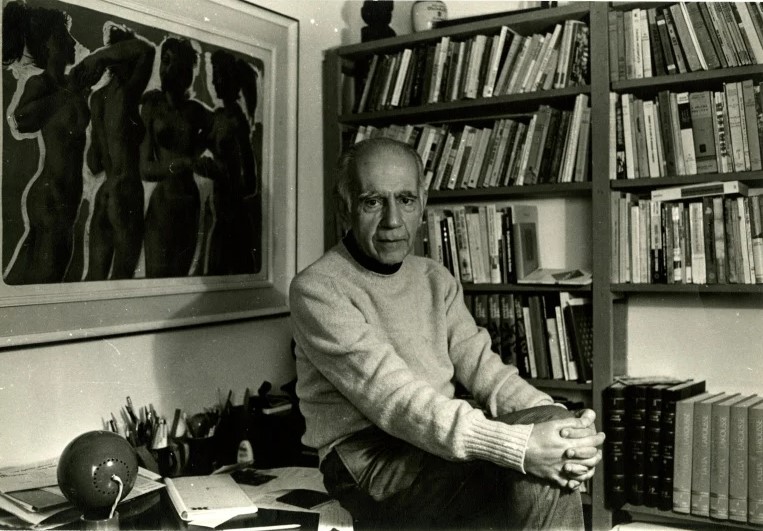
História de Brasília
Há quase um mês não há aula no curso médio de Brasília. Os estudantes serão os prejudicados, e as autoridades não se interessam por uma solução. Enquanto isto, os pais apreensivos vêem seus filhos sem ensinamentos, e os professores sem querer sair das casas invadidas. (Publicada em 15.05.1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

A frase segundo a qual o Estado nunca tolerou rivais funciona como chave interpretativa para compreender a forma como se estruturam, historicamente, as relações de poder e a relação do indivíduo com a autoridade pública. Não se trata de mera provocação teórica, mas de uma constatação repetida em diferentes momentos da história ocidental: sempre que o Estado se sente ameaçado ou desafiado pela emergência de instituições independentes, a sua reação imediata é expandir mecanismos de controle, vigilância e regulação. Esse movimento, que vai do monopólio da força à imposição de códigos normativos cada vez mais intrusivos, tende a sufocar a pluralidade institucional que deveria sustentar uma sociedade madura. Sob essa lógica, comunidades locais, igrejas, associações civis, empresas privadas, famílias e até o próprio indivíduo passam a ser vistos como potenciais competidores, e não como componentes essenciais de uma ordem social saudável, capaz de equilibrar liberdades com responsabilidades.
O fenômeno torna-se ainda mais evidente num contexto em que o liberalismo, não como slogan, mas como tradição filosófica e prática de limitação do poder, é tratado com desconfiança ou como inimigo a ser anulado. O liberalismo, com todas as suas limitações e contradições ao longo dos séculos, sempre serviu como barreira contra as tendências expansivas do Estado, oferecendo um conjunto de princípios orientados à proteção da autonomia individual, da propriedade privada, da livre associação e da independência das esferas civil e econômica. Não surpreende, portanto, que regimes ou governos hostis a esses valores tenham promovido, ao longo da história, a concentração de poder em níveis incompatíveis com a convivência democrática. O repertório de adversários é conhecido: mercantilismo, absolutismo, socialismo autoritário, imperialismos de diversas naturezas, protecionismos sufocantes e até práticas moralmente indefensáveis, como a escravidão. Todas essas estruturas, embora distintas entre si, compartilham uma raiz comum: a crença de que o Estado deve prevalecer sobre o cidadão e que a liberdade, quando existe, é concessão, e não direito.
A carga tributária opressiva, que recai especialmente sobre empresas produtivas e famílias, é apenas um dos sintomas mais visíveis desse processo. A cada novo conjunto de normas, decretos ou regulações, o Estado brasileiro reafirma uma tendência crônica de considerar o empreendedor como adversário, e não como parceiro no desenvolvimento nacional. A burocracia sufocante, aliada a um sistema judicial que frequentemente legitima decisões intervencionistas, aprofunda um ambiente de insegurança jurídica que afasta investimentos e desestimula a iniciativa privada. Essa lógica perpetua um ciclo perverso no qual o Estado, incapaz de garantir eficiência mínima em áreas essenciais como saúde, educação, segurança e infraestrutura, insiste, paradoxalmente, em reclamar para si ainda mais funções, mais recursos e mais poder.
Ao mesmo tempo, observa-se, no campo político, um discurso cada vez mais hostil à crítica, à divergência e à própria ideia de oposição. A democracia, para prosperar, exige espaços de contestação, circulação de ideias, pluralidade de vozes e instituições capazes de limitar o poder, sejam elas parlamentares, judiciais, mediáticas ou civis. Quando essas barreiras começam a ser enfraquecidas, seja por meio de estratégias de intimidação, seja pelo uso seletivo de órgãos estatais para fins políticos, instala-se uma atmosfera de medo e autocensura que lembra mais regimes de exceção do que repúblicas democráticas. Esse tipo de ambiente, já alertado por analistas internacionais, acende sinais de alerta sobre a saúde institucional do país e coloca o Brasil no radar de nações preocupadas com o avanço global das tendências liberais.
Não há o que discutir sobre a necessidade de políticas públicas robustas, mas sim a transformação do Estado em um agente que se autopromove a guardião exclusivo do bem-estar social, desconsiderando a importância das redes comunitárias, do capital social e das iniciativas privadas que, em democracias sólidas, colaboram para um equilíbrio saudável entre solidariedade e autonomia.
A preservação de liberdades é a verdadeira base do progresso, da inovação, da justiça e da dignidade humana. Em tempos de crescente preocupação internacional com o risco de deriva autoritária em diversas partes do mundo, reafirma-se a urgência de um debate honesto e profundo sobre os rumos do país. A defesa da liberdade não é uma bandeira partidária, mas um compromisso civilizatório. Ignorá-la, relativizá-la ou subordiná-la a agendas de ocasião é abrir caminho para um Estado que, incapaz de tolerar rivais, passa a considerar seus próprios cidadãos como obstáculos e não como fundamento de sua existência. O futuro democrático do Brasil depende da capacidade de reconhecer esse risco e de reafirmar que a função do Estado é servir, não dominar.
A frase que foi pronunciada:
“Eu acreditava muito nos mecanismos governamentais, mas eles têm células cancerígenas que crescem incontrolavelmente. Há algo de doentio na máquina estatal. A experiência de jovem me tornou cético para as reais possibilidades do Estado.”
Roberto Campos

História de Brasília
A Festa do Candango, que alcançou tanto êxito no ano passado será realizada também êste ano, nos dias 29 e 30 de junho e primeiro de julho. O local, como o IAPI está ajardinado, será transferido para o IAPETC. (Publicada em 12.05.1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Decisão tomada pela Colômbia de declarar-se, em meio à turbulência política que envolve as relações diplomáticas com os Estados Unidos e ao escrutínio internacional provocado pelos desdobramentos da COP30, como o primeiro país da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica a renunciar integralmente à prospecção de petróleo e à exploração mineral em seu território amazônico, constitui uma ruptura profunda com o padrão histórico que moldou a ocupação da região e, ao mesmo tempo, lança um desafio silencioso e incômodo aos demais signatários desse pacto multilateral, sobretudo aos governos que insistem em justificar a manutenção de seus modelos extrativistas sob o argumento de que a vulnerabilidade econômica impede qualquer alternativa estruturante capaz de conciliar desenvolvimento e preservação.
A medida anunciada pelo Ministério do Meio Ambiente colombiano traz a totalidade do bioma amazônico nacional como Reserva de Recursos Naturais Renováveis e proibiu a aprovação de novos projetos de petróleo e de mineração em grande escala sobre uma área que ultrapassa os 48 milhões de hectares (cerca de 483.000 km²), bloqueando dezenas de pedidos pendentes de concessões, segundo o governo, dezenas de blocos petrolíferos e centenas de requisições minerais ficam, pelo menos em princípio, impedidos de avançar enquanto vigora o novo regime.
Irene Vélez Torres, ministra interina do Meio Ambiente, justificou o ato ao afirmar que “essa declaratória busca prevenir a perda e degradação de florestas, a captura de água e a contaminação de nossos rios, evitando a acumulação de impactos ambientais que décadas de exploração industrial causaram”, acrescentando um chamado explícito à cooperação regional: “convidamos os países amazônicos a se unirem numa Aliança Amazônica pela Vida”.
Documento governamental que formaliza a reserva, conforme divulgado pelo ministério, prevê um regime transicional que respeita “situações consolidadas” ou seja, não implica despejos imediatos de atividades já em operação, mas estabelece um impedimento claro a novas licenças e uma moratória para a abertura de novas frentes exploratórias, medida que especialistas descrevem como simbólica, porém com potencial prático para deter a expansão de novos blocos e concessões.
Ao assumir a dianteira, a Colômbia demonstra que a preservação pode ser também uma estratégia diplomática sofisticada, apta a reposicionar o país no cenário internacional e a elevar seu poder de barganha em negociações que, historicamente, foram dominadas por nações industrializadas que exploraram seus próprios biomas até a exaustão e agora tentam impor parâmetros ambientais sem reconhecer plenamente suas responsabilidades passadas.
O presidente Gustavo Petro, em diferentes intervenções públicas durante a cúpula e nos dias que antecederam a COP30, reiterou essa linha ao pedir maior ambição global na saída dos combustíveis fósseis e ao afirmar que “não cabe a países que devastaram seus próprios territórios dar lições sem assumir responsabilidades”; sua retórica funcionou como complemento político à medida técnica do ministério, ainda que críticos apontem que a tradução dessa postura em políticas internas e em garantias de financiamento para alternativas sustentáveis exigirá passos subsequentes e concretos.
Enquanto países vizinhos começam a reconhecer que a preservação ambiental pode funcionar como elemento estratégico para fortalecer a democracia, aumentar a credibilidade internacional e atrair investimentos baseados em inovação científica e cadeias produtivas limpas, nosso país permanece preso à velha lógica de que a exploração intensiva dos recursos naturais seria o único caminho possível para evitar estagnação econômica e tensões sociais, ignorando que a insistência nesse modelo não apenas compromete a integridade da Amazônia, mas também aprofunda desigualdades internas, marginaliza populações tradicionais e reforça a dependência de mercados voláteis cujos ciclos de alta e baixa submetem o país a um permanente estado de vulnerabilidade.
A projeção de uma área gigantesca como zona livre de exploração petrolífera e mineral permite à Colômbia não apenas estabelecer um novo patamar de compromisso ecológico, mas também demonstrar que é possível pensar políticas de proteção que articulem conservação e soberania sem recorrer à narrativa simplista de que a sustentabilidade seria uma imposição externa ou uma ameaça ao desenvolvimento.
Em discurso em fórum ministerial da OTCA durante a COP30, a ministra Vélez também afirmou que a medida “é um primeiro passo, mas exige financiamento internacional e políticas de substituição econômica para comunidades locais”, reconhecimento explícito da necessidade de combinar proteção legal com instrumentos de justiça social e desenvolvimento alternativo.
Esse espelho incômodo criado pela atitude colombiana reflete as limitações de um modelo nacional incapaz de articular políticas ambientais coerentes e de longo prazo e evidencia que o futuro da Amazônia dependerá cada vez mais da coragem política dos países que compõem a OTCA e da capacidade que cada um terá de transformar compromissos formais em ações concretas, compreendendo que a preservação não é uma concessão ao ambientalismo global, mas um imperativo civilizatório sem o qual não haverá estabilidade climática, segurança hídrica nem condições sociais mínimas para sustentar projetos de nação no século XXI.
Enquanto a Colômbia avança, nosso país permanece enredado em contradições que se agravam sob o peso de um regime que ignora qualquer crítica e prefere exibir força em vez de reconhecer suas próprias falhas.
A frase que foi pronunciada:
“A hora é agora. A história exige que ajamos”.
Ministra do Meio Ambiente da Colômbia

História de Brasília
IAPFESP, parou. IAPM, parou. Itamarati parou. Ministério da Justiça não começou. (Publicada em 12.05.1962)
VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Quando a lona do circo finalmente pegou fogo, não havia mais dúvida: a COP30 em Belém do Pará se confirmou como a tragédia anunciada que tantos já previam. Os problemas vinham desde cedo com improvisações, sinalizações precipitadas e um governo mais preocupado com a vitrine do que com a substância, e as várias críticas acumuladas ao longo da preparação agora explodem em cinzas. Em primeiro lugar, a crise de hospedagem que dominou os bastidores do evento foi um escândalo. A ONU, por meio do secretário-executivo da Convenção do Clima (UNFCCC), Simon Stiell, chegou a recomendar a redução das delegações devido à falta de acomodações e ao custo exorbitante em Belém. Hotéis cobraram tarifas com diárias muito acima do que a estrutura da ONU considera aceitável, com exigência de estadia mínima um modelo que fragiliza a participação de países mais pobres e compromete a credibilidade da conferência. Para diplomatas do Panamá, por exemplo, os valores eram “insanos e insultuosos”.
Essa situação gerou forte “caldo negativo de confiança” e alimentou a narrativa de que a COP30 foi pensada para impressionar, não para produzir. Além disso, as críticas levantadas por lideranças indígenas e do Ministério Público Federal foram contundentes. No estande do MPF, a promotora Eliane Moreira denunciou que menos de 1% dos recursos globais de financiamento climático chega verdadeiramente às comunidades de base enquanto os mecanismos de mercado, como o REDD+, funcionam como “licenças para corporações continuarem poluindo”, mercantilizando territórios e naturalizando violações de direitos. A Convenção 169 da OIT, segundo essas lideranças, tem sido ignorada: há relatos de ausência de Consulta Prévia, Livre e Informada, além de contratos de longo prazo (30 a 50 anos) com cláusulas sigilosas, que colocam populações indígenas em situação de vulnerabilidade e cooptação. Na arena política, a COP30 também sofreu ataques internos: parlamentares de 47 países aprovaram 25 diretrizes durante a conferência, exigindo transição energética justa, adaptação climática e proteção dos povos indígenas, denunciaram que o modelo atual de financiamento climático é falho e exigiram mais participação democrática nos compromissos.
Por trás dos discursos de celebração, muitos viam uma conferência divorciada das bases, mais espetáculo do que ação concreta. E como se não bastasse, veio o incêndio: uma chama real tomou a chamada Zona Azul onde ocorrem as negociações, obrigando a evacuação de delegados num momento crucial de fechamento de acordos. Treze pessoas foram tratadas por inalação de fumaça. O fogo, segundo relatos, teria começado por falha elétrica (possivelmente um gerador ou até um micro-ondas) e se espalhou rapidamente por tendas fabricadas para o evento. Esse episódio simboliza, de maneira dramática, o colapso logístico e a fragilidade estrutural desta COP: uma conferência internacional que organizou tendas improvisadas para receber os grandes povos do mundo, mas não garantiu segurança mínima. O fato de a ONU ter já enviado alertas em carta ao governo brasileiro, mencionando portas defeituosas e infiltrações de água nas estruturas, apenas reforça que os riscos eram conhecidos. Há uma clara dissonância entre o discurso de “COP da Amazônia” e a realidade de uma infraestrutura montada às pressas, sem o devido controle.
Somemos a isso os protestos: indígenas e ativistas invadiram a conferência, denunciando que a Amazônia estava sendo usada como cenário de marketing, enquanto prioridades locais, como saúde, saneamento, educação e proteção territorial, eram negligenciadas. Para muitos desses grupos, a COP30 se tornou um palco vazio com simbolismo, mas sem justiça real. Esse cenário é ainda mais grave quando se considera a natureza política do encontro: a união entre o governo federal e lideranças locais do Pará tem sido vista como parte de uma engrenagem de poder que explora a Amazônia para ganhos simbólicos e eleitorais.
A escolha de Belém não seria apenas um gesto ambiental, mas uma manobra para mostrar força diplomática, mas o espetáculo se revelou cada vez mais frágil e disfuncional.
Quando a construção é superficial feita para a imagem, não para a ação, o risco é alto: a máscara cai, o palco pega fogo, e quem mais paga a conta são os mais vulneráveis. Belém, com todo o seu potencial simbólico, deveria ter sido palco de uma virada climática. Mas virou exemplo de desorganização, despreparo e desrespeito com desvios do foco. Que essa COP sirva de alerta: compromissos ambientais precisam de infraestrutura, competência, responsabilidade e participação, não apenas de discursos e posturas.
Frase que foi pronunciada:
“Deveria nos alarmar que veremos nossos primeiros trilionários em poucos anos, enquanto quase metade da humanidade ainda vive na pobreza. Ao mesmo tempo, está mais claro do que nunca que a emergência climática é uma crise de desigualdade”.
Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Cyril Ramaphosa e Pedro Sánchez no Financial Times

História de Brasília
Os outros Institutos bem que poderiam fazer a mesma coisa, para que a campanha se verificasse simultaneamente em todo o Plano Pilôto. (Publicada em 12.05.1962)
VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Talvez não haja veneno mais eficaz para corroer os laços de uma sociedade do que o hábito insidioso de enxergar o outro não como interlocutor, mas como inimigo. A polarização, esse mal que se disfarça de convicção, vem se entranhando no tecido nacional com tal sutileza que já não se sabe onde termina a política e começa o ódio. No Brasil, a divisão em campos opostos, muitas vezes estimulada por discursos oficiais, por algoritmos ou pela própria fragilidade educacional, já se converteu em paisagem cotidiana. O fenômeno, embora costume ser atribuído a governos recentes, possui raízes mais antigas, plantadas na incapacidade coletiva de sustentar o diálogo e na persistente desigualdade estrutural que produz exclusões simbólicas e materiais.
Segundo o relatório “Democracia sob Tensão”, do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação (UFMG, 2024), cerca de 72% dos brasileiros afirmam sentir que o país está “profundamente dividido”, um índice que cresceu 11 pontos percentuais desde 2018. Esse mesmo levantamento aponta que 64% das pessoas evitam discutir política com amigos ou familiares, tamanho o desgaste das conversas e a tensão instalada no cotidiano. Há quem diga que se trata de um fenômeno passageiro, mas os números e as redes digitais mostram o contrário: o Datafolha revelou, em maio de 2024, que 9 em cada 10 eleitores afirmam não se arrepender do voto de 2022, o que evidencia o endurecimento das identidades políticas e a cristalização da cisão social.
Os efeitos disso vão muito além da urna. A polarização se infiltrou no entretenimento, nas universidades, nas empresas, e até nas mesas de bar, corroendo o que o sociólogo Zygmunt Bauman chamaria de “zonas de convivência líquida”. A cada episódio, a desconfiança se renova: artistas são boicotados, intelectuais são cancelados, professores são vigiados e jornalistas são atacados sob qualquer pretexto. Relatório da UNESCO (2023) alerta que o Brasil figura entre os dez países com maior volume de ataques virtuais a comunicadores e artistas em razão de opiniões políticas, o que demonstra que a fratura cultural acompanha a fratura cívica.
Festivais, exposições e prêmios têm sido atravessados por disputas ideológicas que pouco ou nada têm a ver com estética ou mérito. O Observatório de Economia Criativa (UFBA, 2024) mostrou que 38% dos artistas brasileiros afirmam ter perdido contratos ou convites de trabalho por causa de sua posição política, enquanto 52% relatam autocensura em redes sociais e apresentações públicas para evitar retaliações. Trata-se de um dado alarmante, pois revela que a polarização não apenas divide: ela silencia.
No entanto, a origem do problema não pode ser reduzida a um espectro político específico. Pesquisas internacionais, como a do Pew Research Center (2024), indicam que o Brasil é um dos países com maior índice de polarização afetiva da América Latina, superado apenas por Estados Unidos e Argentina. Essa “polarização afetiva” é aquela em que a rejeição ao outro partido ou grupo social importa mais do que a adesão racional às ideias do próprio lado. Em outras palavras, não se trata apenas de divergência, mas de aversão moral. E essa aversão é alimentada, todos os dias, por um sistema comunicacional que recompensa a indignação.
As redes sociais têm papel central nessa engrenagem. O relatório “Digital 2025”, da consultoria We Are Social, mostra que o Brasil já tem mais de 150 milhões de usuários ativos nas redes, com tempo médio diário de 3 horas e 46 minutos em plataformas digitais, um dos maiores do mundo. O mesmo relatório aponta que conteúdos com teor emocional negativo (raiva, ironia, indignação) alcançam até 70% mais engajamento do que postagens neutras. O algoritmo, portanto, não apenas reflete a polarização, mas a multiplica, incentivando o confronto e desestimulando o diálogo.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) revelou, no Censo da Educação Básica 2024, que apenas 34% dos alunos do ensino médio compreendem plenamente textos argumentativos complexos, uma estatística que explica muito sobre nossa vulnerabilidade à manipulação simbólica. Um país que não lê, não interpreta e não debate tende a ser refém da simplificação e da mentira. E a mentira, quando vestida de verdade partidária, transforma-se em instrumento de poder.
Em 2023, segundo dados da Fundação Getulio Vargas (FGV Cultura), o setor cultural brasileiro perdeu 18% de seu público presencial em relação ao período pré-pandemia, fenômeno atribuído não apenas à crise econômica, mas também à crescente rejeição do público a manifestações percebidas como “partidárias”. A plateia, antes diversa, fragmentou-se em bolhas.
Sociólogos como Jessé Souza e Ladislau Dowbor vêm alertando que a polarização tem servido como cortina de fumaça para a ausência de políticas estruturais de longo prazo. Enquanto a sociedade se digladia por símbolos e narrativas, o país segue com 9,2 milhões de desempregados (IBGE, PNAD Contínua , 2025), 26 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave (FAO, 2024) e uma taxa de evasão escolar que volta a crescer, atingindo 18% entre jovens de 15 a 17 anos. São números que falam de desigualdade e descuido, mas que raramente mobilizam tanto quanto uma disputa ideológica no feed.
Por isso, o enfrentamento da polarização exige mais do que bons modos: exige reconstrução cultural e educacional. É preciso investir em programas de educação midiática, fomentar o pensamento crítico desde a infância, e estimular políticas culturais que valorizem o dissenso como aprendizado, e não como ameaça. A OCDE, em relatório publicado em 2024, indica que países que introduziram currículos de “educação para cidadania digital” reduziram em até 30% os índices de radicalização juvenil online em cinco anos. A lição é clara: o diálogo precisa ser ensinado.
Também é necessário repensar a relação entre Estado, cultura e financiamento. Quando o apoio público se converte em recompensa a fidelidades ideológicas, o espaço da arte se empobrece. E quando o artista teme a rejeição de parte do público por se expressar, o país perde um de seus mais antigos instrumentos de autocrítica. A pluralidade não deve ser privilégio de um grupo, mas fundamento da nação.
Ao fim, o mal da polarização talvez não esteja na divergência em si, pois o conflito de ideias é o motor da democracia, mas na transformação da diferença em fronteira. O Brasil, com sua vocação histórica para a mistura e o diálogo, parece agora se esquecer de que nenhuma sociedade resiste quando as palavras se tornam pedras. É preciso, portanto, reaprender o idioma da convivência, antes que a surdez coletiva se torne permanente.
Enquanto houver quem prefira gritar a ouvir, o país continuará dividido não em partidos, mas em pedaços. E cada pedaço, por menor que pareça, levará consigo um fragmento do que já fomos: um povo capaz de rir de si mesmo, de abraçar o outro e de reconhecer, no rosto diferente, a semelhança que nos fazia inteiros.
A frase que foi pronunciada:
“O destino conduz o que consente e arrasta o que resiste.”
Séneca

HISTÓRIA DE BRASILIA
E por falar nisto, estão enganando o presidente da República. Houve uma decisão para reiniciar as obras em Brasília. O IAP-FESP e o IAPM lançaram-se numa euforia arquitetônica e pararam no meio do caminho.
VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Nessa semana, a revista The Economist mostrou reportagem em que faz severas críticas à pessoa e à atuação política do presidente brasileiro. Tanta repercussão causou nos bastidores que o próprio Itamaraty teve que entrar em cena para em carta defender nosso comandante. Por mais que se pretenda defender o mandatário, as críticas, na sua grande maioria, são procedentes e mostram que o líder nacional está perdido no espaço, talvez pelo pesar dos anos de uma vida regada a álcool e a excessos de todo o tipo. O importante aqui é saber até que ponto o atual governo tem sido de fato o responsável pelo aprofundamento da crise econômica e política que, mais uma vez, vai empurrando o país para a periferia do mundo civilizado, transformando o Brasil numa espécie de pária internacional, ligado aos piores e mais falidos regimes do planeta.
Neste momento, vivemos um grave risco estrutural: à medida que o mundo se realinha geopoliticamente e fortalece cadeias de valor modernas, a atuação do governo sinaliza um recuo em suas capacidades como ator internacional relevante e coloca em xeque o projeto de retomada econômica sustentada. A recente avaliação da The Economist de que Lula “perdeu influência no exterior e é impopular no Brasil” traz, em forma de alerta editorial, o que está em jogo para o país. O primeiro grande problema é a política externa. O Brasil tem dado preferência visível a países como China, Rússia e Irã, numa guinada que a revista qualifica como “cada vez mais hostil ao Ocidente”. O alinhamento ou a aparência de alinhamento com regimes autoritários ou contestados internacionalmente compromete a credibilidade do país junto a mercados, investidores e parceiros tradicionais.
Em um mundo onde confiança, previsibilidade e integração global geram crescimento, o Brasil corre o risco de se tornar peripheral – menos interlocutor, mais espectador. Em segundo lugar, um perfil interno de fraqueza institucional parece crescer. The Economist destaca que a desaprovação popular atingiu níveis críticos, e que o Legislativo derrubou um decreto presidencial, algo inédito em décadas, mostrando que o Executivo perdeu fôlego político.
Se a política econômica e institucional perde sustentação, a estabilidade requerida para investimentos, reformas e credibilidade se esvai rapidamente. A economia, claro, sofre o impacto. Apesar de alguns dados pontuais positivos, a tendência é de estagnação ou de crescimento fraco se nada for feito para modernizar a estrutura produtiva, logística, regulação e geração de valor agregado. Um presidente que se isola internacionalmente e que acumula desgaste interno dificilmente mobiliza energias para reformas profundas. Assim, o Brasil pode estar prestes a repetir ciclos de baixo crescimento, déficit estrutural e falta de dinamismo, exatamente o oposto da narrativa de “novo ciclo” que muitos pregam. Além disso, a identidade internacional do Brasil que, há poucos anos, era de “potência intermediária” em ascensão corre o risco de se converter em país alinhado majoritariamente a regimes falidos ou contestados. Isso não só fragiliza o soft-power brasileiro, mas cria vulnerabilidades: mercados multilateralizados podem preferir fornecedores, parceiros ou blocos que ofereçam menor risco reputacional ou político.
Se o Brasil se torna aliado de regimes vistos como instáveis ou autoritários, ele se expõe e pode pagar o preço em barreiras comerciais, financiamento internacional e até insegurança geopolítica. No âmbito interno, a imagem de um presidente “perdido no espaço” fruto, segundo alguns críticos, de anos de vida pública marcada por excessos embora mereça cautela, simboliza para muitos a sensação de que não há uma liderança clara, renovadora e propositiva. A combinação de desgaste, rumor de alianças de conveniência e ausência de projeto claro de futuro configura um terreno fértil para que o país fique refém de “gestão do dia a dia” em vez de “dobradinha de rumo e execução”.
Essa é a fórmula para que o país tenha muito a perder: a falta de influência externa, o declínio interno de legitimidade, a incapacidade de gerar crescimento robusto, o risco de isolamento diplomático e econômico, e a possível transformação de parceiro relevante em bem-menos-importante. A estagnação econômica pavimenta o caminho para o desemprego, a migração de cérebros, a fuga de capitais, e o retrocesso social. O prestígio perdido dificulta reformas estruturais porque reduz tanto o “capital político” quanto o “capital internacional”, que viabilizam grandes movimentos.
Para reverter esse quadro, o país precisa urgentemente que o presidente e a coalizão que o apoia retornem à lógica de construção de confiança: confiança internacional (parcerias sólidas, não conjunturais), confiança doméstica (instituições funcionando, execução crível) e confiança econômica (produto crescente, investimento privado, funcionamentos de mercado). Sem isso, o Brasil não apenas deixará de decolar, ele corre o risco de retroceder. O cenário ideal em vez de “país pária” não é inevitável, mas exige que se pare de repetir erros do passado e venha a assumir com humildade que, sob a liderança atual, há mais interrogações do que certezas.
A reportagem da The Economist não deve ser lida como simples provocação estrangeira, ela serve como espelho desconfortável de uma situação que parece melhor compreendida à distância, fora do alcance da censura e dos adesismos de ocasião.
A frase que foi pronunciada:
“O trabalho foi o primeiro preço, o dinheiro original que foi pago por todas as coisas. Não foi com ouro ou prata, mas com trabalho, que toda a riqueza do mundo foi originalmente comprada.”
Adam Smith
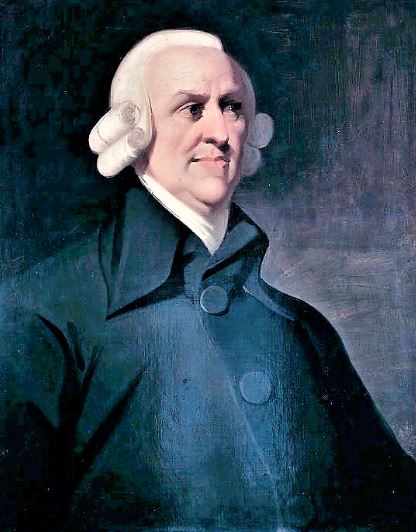
História de Brasília
Na Quadra 7 do SCR as calçadas não estão completas. Onde há casa comercial, a calçada é feita. Onde há passagem para a W-2 é todo esburacado o piso. (Publicada em 10.05.1962)
VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Para um mundo tão conectado como o nosso, surpreende que as pessoas se sintam e reclamem que nunca se sentiram tão sozinhas. Há um hiato imenso a separar o mundo virtual da realidade. Mas poucos percebem ou entendem esse fato simples. São em brechas assim, criadas pelo avanço das tecnologias e por onde medra a solidão humana, que surgem novos conceitos tentando explicar a coexistência entre esses dois mundos tão diversos e distantes. Um desses conceitos é o da “pós-verdade”. O termo, que parece sofisticado, é, na verdade, o sintoma de um colapso mais profundo: o da razão.
Vivemos um tempo paradoxal. Nunca o mundo esteve tão conectado, tão próximo em aparência e tão distante em essência. À cada toque, um universo de informações se abre diante de nós; à cada clique, a ilusão de pertencimento se renova. E, no entanto, jamais estivemos tão sós. É a solidão das telas, o eco do vazio nas redes, a angústia de uma convivência mediada por algoritmos. Entre o mundo virtual e a realidade concreta, ergue-se um abismo que poucos percebem, e menos ainda compreendem.
Nesse ponto, o mundo virtual se aproxima da realidade que está aí. Moldar a opinião pública e os mecanismos mentais das massas, levando-as a crer que os fatos objetivos já não importam para entender o mundo em volta. As emoções e as crenças passam a ocupar ou usurpar o lugar da racionalidade e mesmo do bom senso. A esse novo conceito, liga-se a política pós-factual, no qual os debates perdem lugar para apelos emocionais e crenças. O fato em si não interessa. Importa o sentimento que ele provocou no seio da sociedade. É o caso aqui de citar como exemplo, a tese, levantada de que a Operação Lava Jato causou um sério prejuízo econômico para o país, gerando milhares de desempregados, além de comprometer boa parte do desempenho da indústria nacional.
O Brasil experimenta, assim como parte de alguns países da Europa, os efeitos de um autêntico processo de pós-verdade. Para mantê-las distante, é preciso açular as polarizações ao extremo. A começar a chamar de extremista quem quer que discorde do discurso dominante. No futuro, os historiadores terão que consultar, antes de qualquer pesquisa acadêmica séria, o verbete “pós-verdade”, para depois entender o contexto geral dos acontecimentos, naqueles tempos confusos em que até a linguagem foi alterada em suas bases.
A pós-verdade não nega a existência dos fatos; ela simplesmente os torna irrelevantes. O que passa a importar não é o que é, mas o que se sente. Em seu império, a emoção subjuga o raciocínio, a crença substitui a prova, e o discurso domina a realidade. É o triunfo do parecer sobre o ser, da impressão sobre o conhecimento.
Nas democracias ocidentais, e o Brasil não é exceção, o fenômeno se manifesta com uma nitidez assustadora. A política, transformada em espetáculo, trocou o debate de ideias pela dramaturgia das redes sociais. A lógica cedeu espaço à histeria, e os argumentos, às narrativas. A opinião pública deixou de ser fruto da reflexão coletiva para tornar-se um produto moldado por máquinas de convencimento emocional. A política pós-factual é o rosto institucional dessa nova era. Quando os fatos deixam de ter peso, qualquer tese pode florescer, desde que embalada por apelos sentimentais e compartilhada milhões de vezes. Basta um fragmento de verdade, distorcido e repetido, para se tornar dogma. Assim, quando um político experiente afirma que a Operação Lava Jato foi a responsável pela crise econômica, não está preocupado em confrontar dados ou medir consequências objetivas; interessa-lhe apenas o efeito emocional da frase, a reação que ela provoca, o ressentimento que alimenta.
Vivemos um tempo em que o contraditório é tratado como ameaça, e o pensamento independente, como extremismo. A crítica virou heresia; o diálogo, confronto. Para que a pós-verdade se sustente, é necessário que a sociedade se polarize até o limite. Quanto mais divididos estivermos, mais frágeis seremos diante das narrativas que nos prometem sentido. Mas esse processo não é apenas político. É civilizacional. A linguagem, que sempre foi o espelho do pensamento, começa a se deformar. Palavras antigas perdem significado; outras, recém-inventadas, passam a dominar o vocabulário coletivo. É uma Babel digital em que todos falam, mas poucos se entendem. A velocidade da informação destrói o tempo da reflexão. A superficialidade virou método; a dúvida, crime.
Nesse contexto surreal, em que a mentira adquire status de opinião e a verdade é vista como arrogância, o papel da imprensa torna-se ainda mais essencial e cada vez mais difícil. O jornalismo, que nasceu para separar o fato da ficção, precisa agora resistir à tentação de se tornar ele próprio uma narrativa. Em tempos de pós-verdade, reportar é um ato de coragem; investigar um gesto de resistência. E o que virá depois? Se já habitamos o território da pós-verdade, talvez estejamos a um passo daquilo que poderíamos chamar de pós-verdade-pós. Uma era em que até o simulacro se desfaça e o real deixa de ser relevante. Um tempo em que o virtual não mais imite o mundo, mas o substitua. Nessa fase, não haverá sequer a pretensão de convencer, bastará emocionar. Não se disputará mais o sentido dos fatos, mas o direito de senti-los. O perigo é que, nesse horizonte, a própria ideia de verdade, essa noção que estruturou milênios de cultura e filosofia, torne-se uma relíquia. Um conceito antigo, talvez romântico, de um tempo em que ainda acreditávamos que a razão pudesse iluminar as sombras.
Contudo, ainda há uma saída. Ela começa na consciência individual de que pensar é um ato de liberdade. Que duvidar é uma virtude, não um defeito. Que a verdade, por mais incômoda que seja, é o único solo firme sobre o qual uma sociedade pode erguer-se. Se a verdade for mesmo abolida, se nos rendermos à sedução das emoções e ao conforto das crenças, então o que virá depois da pós-verdade não será uma nova era, mas a repetição de caminhos longes da verdade nua e crua.
A frase que foi pronunciada:
“Então aqui cabem as seguintes perguntas: Isso a que se hoje se nomeia “pós-verdade”, não seria apenas uma nova fachada para um fenômeno bem antigo, a saber, a mentira na política?”
Charles Feitosa

História de Brasília
A Asa Norte do Plano Piloto continua com os mesmos problemas de há seis meses. No lado comercial, não há compradores, e no lado residencial, não há comerciantes. (Publicada em 10.05.1962)
VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Do ponto de vista político e filosófico, o conceito de soberania é um dos mais complexos e centrais da teoria do Estado — e também um dos mais debatidos entre cientistas políticos, juristas e filósofos ao longo da história. Em essência, soberania designa o poder supremo e independente de um Estado de decidir sobre si mesmo e sobre os que vivem sob sua autoridade, sem estar sujeito a nenhuma instância superior. Mas esse conceito, que parece simples, ganhou contornos muito distintos conforme o tempo e o contexto histórico. A noção moderna de soberania surgiu no século XVI, com Jean Bodin, considerado o primeiro teórico a definí-la de forma sistemática. Para Bodin, soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república — isto é, um poder que não reconhece superior na ordem temporal. Esse pensamento nasce em meio à crise do feudalismo e ao fortalecimento dos Estados Nacionais, que buscavam centralizar o poder nas mãos de reis e príncipes.
Durante séculos, a palavra soberania simbolizou, ao seu território e seu povo, um ideal nascido no berço do mercantilismo e consolidado com a formação dos Estados Nacionais no século XV. Do ponto de vista da ciência política, a soberania passou por uma profunda transformação com a globalização, o avanço das organizações internacionais e a interdependência econômica. Hoje, muitos cientistas — como Jürgen Habermas, Hannah Arendt e David Held — sustentam que a soberania já não pode ser vista como absoluta. Habermas, por exemplo, propõe o conceito de soberania comunicativa, segundo o qual o poder político deve emergir do diálogo racional entre cidadãos livres e iguais — um poder legitimado pelo consenso, e não pela força. Arendt, por sua vez, desconfiava da própria ideia de soberania como domínio, pois acreditava que a política verdadeira nasce da ação coletiva e da liberdade, não da imposição de autoridade. Para Held e outros teóricos do cosmopolitismo, a soberania hoje é compartilhada entre Estados, organismos internacionais, corporações e até movimentos sociais transnacionais.
O poder deixou de ser puramente territorial e passou a circular em redes de influência globais. Naquela época, soberania significava independência, autoridade e capacidade de decidir o próprio destino sem interferências externas. Era o alicerce da autodeterminação dos povos. Mas, passados mais de quinhentos anos, o conceito parece ter se esvaziado, especialmente quando observamos a realidade brasileira, onde o poder soberano do povo, em tese consagrado pela Constituição, parece diluído entre interesses políticos, econômicos e ideológicos. Hoje, no Brasil, a soberania tornou-se um discurso conveniente, manipulado conforme o interesse de quem ocupa o poder. Políticos, juízes e militares a evocam quando lhes convém, mas raramente em defesa autêntica da vontade popular. O cidadão comum, que deveria ser o verdadeiro soberano numa democracia, vê-se cada vez mais afastado das decisões fundamentais do país. As instituições, enfraquecidas pela polarização e pela perda de confiança, parecem servir mais a projetos de poder do que ao bem público.
A tensão é evidente. Washington observa com inquietação certos sinais vindos de Brasília: o avanço de políticas que flertam com o controle da informação, o cerceamento da imprensa, a criminalização de opiniões divergentes e a tentativa de domesticar o pensamento livre. A retórica da “defesa da democracia” vem sendo usada, ironicamente, para sufocar o próprio exercício democrático. A submissão travestida de pragmatismo revela uma contradição profunda: queremos ser soberanos, mas não temos coragem de sustentar o preço da soberania. É preciso resgatar o sentido original do termo. Soberania não é apenas o direito de um Estado sobre suas fronteiras, mas o dever de garantir que o povo, e não os interesses de elites ou potências estrangeiras, seja o verdadeiro condutor do destino nacional. Quando a liberdade de expressão é ameaçada, quando o debate público é censurado e quando a oposição é tratada como inimiga, a soberania deixa de ser um princípio para tornar-se uma farsa.
O Brasil precisa decidir de que lado está — não entre direita e esquerda, nem entre Norte e Sul —, mas entre ser um país verdadeiramente livre ou um território tutelado por ideologias e poderes que não nascem da vontade popular. Enquanto o cidadão for o último a ser ouvido, a soberania será apenas uma palavra bonita nas constituições e nos discursos oficiais, mas sem vida nas ruas, nas urnas e nas consciências. Em tempos em que a voz do povo é silenciada em nome da “ordem”, e a independência nacional é negociada nos bastidores, resta-nos recordar: um país sem soberania é apenas um cenário de conveniências; e um povo sem voz, por mais que vote, já não é dono do próprio destino.
A frase que foi pronunciada:
“O que, autocracia ou democracia, é realmente mais adequado à China moderna? Se basearmos nosso julgamento na inteligência e na capacidade do povo chinês, chegaremos à conclusão de que a soberania do povo seria muito mais adequada para nós.”
Sun Yat-sen

História de Brasília
Em vários eixos de acesso da W-3, os bueiros do DAE atingem, às vêzes, a mais de 30 centímetros de altura, no meio da pista, constituindo um sério perigo para o tráfego. (Publicada em 10.05.1962)
VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Não é de agora que a esquerda no Brasil tem recorrido, costumeiramente, à retórica da luta de classes, colocando pobres contra ricos e efetivando, na prática, o “nós contra eles”. Essa estratégia, vista historicamente, é uma forma de desunião da população, favorecendo quem detém o poder para manter o controle, mas, atualmente, também tem sido usada para denunciar desigualdades econômicas e sociais profundas, ainda que gere polarização.
Notícias indicam que essa incitação pode levar o país a um caminho difícil, como o da Venezuela, marcada pela crise econômica e social severa. A retórica da luta de classes e a polarização no Brasil pode ser também um mito providencial. A imprensa mostra que a polarização política atual é uma expressão direta da luta de classes, onde existe um antagonismo explícito entre interesses das classes trabalhadoras e das elites econômicas.
Ocorre que, nos discursos das autoridades, as palavras parecem ser levadas pelo vento, desprovidas de compromisso com a realidade que pretendem transformar. O que se observa, de fato, é que, embora cultivem o discurso da luta entre ricos e pobres, tais autoridades acabam por estimular a população a voltar-se contra elas próprias, pois são justamente essas figuras públicas que se apresentam como símbolo maior da desigualdade que dizem combater.
Desfilam em trajes de alto custo, exibem relógios inacessíveis à imensa maioria dos cidadãos, hospedam-se em hotéis de luxo e promovem viagens dispendiosas, muitas vezes destinadas a companheiros de conveniência, e não a técnicos ou especialistas. Essa ostentação reiterada consolida, no imaginário coletivo, a percepção de que os verdadeiros detentores da riqueza no país são os próprios políticos — indivíduos que, em sua maioria, atuam movidos por interesses particulares ou partidários, relegando, aos contribuintes, o papel de sustentar, com seus impostos, o peso de uma máquina pública inchada e entregue aos excessos da própria gastança.
Obviamente, existe consequência dessa retórica para a paz social. Conflitos entre grupos com diferentes interesses econômicos costumam ser manipulados politicamente, causando rupturas sociais e dificuldades para a convivência pacífica. Isso torna o país vulnerável a crises políticas e econômicas mais profundas, afetando a qualidade de vida da população, especialmente dos mais vulneráveis. Fatos como estes levam, necessariamente, a comparações com a vizinha Venezuela. O caso da Venezuela serve como laboratório para este tipo de experimentação, trazendo também um sério alerta para nosso futuro. Lá, a luta extremada entre classes e o enfrentamento ideológico resultaram em uma crise econômica e social gravíssima, com hiperinflação, escassez de alimentos, desemprego e um estado de colapso social.
O divisionismo faz mal para ao nosso país. Ao seguir a mesma lógica de polarização acirrada, baseada em discursos que insuflam o antagonismo de classes, o Brasil corre o risco de acentuar crises sociais e econômicas, dificultando a construção de soluções conjuntas para problemas estruturais. O estratagema de dividir para governar, embora utilizado para controle político, pode minar a coesão social e empurrar o país para um beco sem saída semelhante ao vivido pela Venezuela, com instabilidade e piora das condições de vida.
Há dados concretos que mostram o impacto da polarização política na violência e conflitos sociais no Brasil. Segundo estudo do Observatório da Violência Política e Eleitoral (OVPE) da Unirio, entre janeiro de 2019 e maio de 2024, ocorreram 133 casos de violência política envolvendo parlamentares federais, incluindo agressões físicas e ameaças, revelando o aumento da disputa política acirrada em contexto de polarização. A pesquisa da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), realizada em 2022, mostrou que 3,2% dos entrevistados, cerca de 5,3 milhões de brasileiros, relataram ter sofrido ameaças por suas posições políticas. Além disso, 67,5% disseram ter medo de agressões físicas por conta de suas escolhas políticas, o que reflete o clima de intolerância e medo gerado pela polarização. Uma reportagem do Terra destaca que, só em 2024, foram registrados mais de 450 casos de violência política, incuindo 94 casos de violência física e 15 mortes relacionadas a conflitos políticos.
Maria De’Carli, especialista, destaca que a radicalização e a polarização aumentam a intolerância e a agressividade entre eleitores, especialmente com o fortalecimento do chamado “eleitor digital”, nas redes sociais. Dados da Edelman Trust Barometer apontam que 78% dos brasileiros percebem um aumento da divisão ideológica, e 80% notam um crescimento da falta de respeito mútuo. O mesmo levantamento revela que apenas 29% estariam dispostos a ajudar alguém com opiniões políticas diferentes, indicando um tecido social fragilizado pelo clima de polarização. Esses dados indicam que a polarização política no Brasil tem um impacto direto no aumento da violência política, ameaças, agressões físicas, clima de medo e intolerância social, refletindo uma sociedade cada vez mais dividida e conflituosa.
A frase que foi pronunciada:
“Em política, meu caro, sabe tão bem quanto eu, não existem homens, mas ideias; não existem sentimentos, mas interesses; em política, ninguém mata um homem: suprime-se um obstáculo. Ponto final.”
O Conde de Monte Cristo

Merecem reconhecimento
Não são poucas as instituições educacionais ligadas ao governo que deixam de receber as verbas a que têm direito. A Casa do Pequeno Polegar, que cresceu com Brasília, está em obras aos trancos e barrancos, já que não há verbas. Banheiros para funcionários e visitantes na área externa são prioridade.

Diário
Só os antigos sabem dessa história. Apesar dos maus olhados para o reitor Azevedo da UnB, ele era um homem simples, sem arrogância. Grande amigo do sapateiro Abdias, o convidava sempre para almoçarem juntos.

Agenda
Maria Izabel de Aviz convida para o lançamento do livro Psicoterapia Fenomenológica II (O método fenomenológico). O evento será no dia 17, às 19h, no Salão Paroquial Santo Cura D’Ars, na 914 da Asa Sul. Dom Aviz, irmão da escritora, que estava em Roma, estará presente na solenidade.
História de Brasília
Na Quadra 7 do SCR as calçadas não estão completas. Onde há casa comercial, a calçada é feita. Onde há passagem para a W-2 é todo esburacado o piso. (Publicada em 10.051962)
VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Para todos aqueles que acompanham o noticiário internacional não restam dúvidas de que o mundo assiste a um aumento sem precedentes do antissemitismo, colocando, mais uma vez, o povo judeu no centro da história, além de remeter grupos, governos e pessoas de volta aos vexaminosos bancos dos réus, numa espécie de reedição do Tribunal de Nuremberg. O futuro mostrará quem são os novos algozes de Israel e porque agem de forma tão desumana.
Mesmo depois do Holocausto, ainda é possível observar que o antissemitismo e o fanatismo persistem num mundo que se acreditava moderno e que teria, em tese, aprendido com as experiências macabras dos nazistas. O 7 de outubro de 2023, ocasião em que o Hamas perpetrou o maior assassinato de judeus desde o Holocausto, parece não ter servido de lição à uma parte do mundo, principalmente aquela formada por globalistas da esquerda, que nutrem, pelos judeus, um ódio do tipo patológico semelhante àquele exalado pelos adeptos das teorias eugenistas do século passado. Os mesmos atos vergonhosos se repetem até por quem deveria, por função de ofício, manter a postura da diplomacia. É o caso aqui do comportamento dos representantes do Brasil com assento na Organização das Nações Unidas (ONU).
Tão logo o primeiro-ministro de Israel assumiu a tribuna, a delegação brasileira saiu do plenário em fila indiana, numa clara manifestação que revela a pequenez dos nossos representantes. Com essa atitude, ficou claro que as autoridades brasileiras seguem os mesmos passos dos anões diplomáticos.
Embora a própria ONU tenha perdido, por completo, a capacidade de regular as relações entre as nações, o fato é que o antissemitismo não se avexa em se apresentar publicamente, envergonhando a todos quanto ainda acreditam na superioridade sem par do humanismo. Israel, ao contrário do que prega nosso governo e outros pelo mundo, não foi criada como uma espécie de demonstração ou de compensação pelos horrores do Holocausto e não terá seu fim decretado por terroristas ou governos equivocados como é no nosso caso. A consolidação do povo judeu em Israel é fruto de tratados honestos, feitos à luz do dia e com base na compra legal de terras, no que era antes um deserto árido e infértil. A ida das populações de judeus para Israel deu vida e alma a uma região que antes ninguém reivindicava para si, porque era um imenso vazio povoado apenas por pedras e areia. A ONU sim, foi criada após o Holocausto e mesmo assim parece ter perdido a memória ou o juízo.
Hoje, não passa um dia sequer sem que tenhamos que testemunhar, pela imprensa que ainda pensa e escreve, atentados contra judeus e sinagogas. Vergonha das vergonhas, temos hoje um governo considerado persona non grata em Israel, por suas declarações e posições claramente antissemitas e favoráveis a grupos terroristas. Não é exagero afirmar que o mundo vai repetindo conscientemente o roteiro de um antissemitismo doentio e amoral. Episódios recentes de nada serviram, não há justificativa possível para a violência dirigida contra o povo judeu.
O Brasil, que já teve tradição de equilíbrio e protagonismo na diplomacia internacional, expõe-se agora ao vexame de não ser considerado, por Israel, um país cuja legitimidade deveria ser defendida como conquista civilizatória e não relativizada em função de alianças circunstanciais. O que dizer às centenas de milhares de judeus que hoje vivem em nosso país?
Israel converteu uma região inóspita em campos férteis, cidades modernas e polos de inovação, que hoje exportam ciência, tecnologia e cultura ao mundo. A consolidação do Estado judeu é um feito histórico que representa não apenas a vitória da resiliência de um povo perseguido, mas também a contribuição concreta para o progresso global da humanidade.
Do outro lado da fronteira, o que se tem são inimigos que agem como marionetes, guiados pelas mãos sangrentas de um Alá político e de um Islã que odeia tudo o que é Ocidente. Basta olhar os números: Israel investe mais de 5% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, liderando o ranking mundial em inovação tecnológica. O “Vale do Silício do Oriente Médio” produziu inovações que vão do microchip ao aplicativo de navegação usado em carros no mundo inteiro. Avanços médicos desenvolvidos por cientistas israelenses salvaram milhões de vidas: da descoberta de tratamentos contra o câncer à criação do primeiro marcapasso eletrônico.
A agricultura de irrigação por gotejamento, desenvolvida em kibutzim israelenses, revolucionou a produção de alimentos em regiões áridas do planeta. A cibersegurança, que protege governos e empresas em escala global, também tem raízes no know-how israelense. A contribuição judaica para a humanidade, no entanto, não se restringe a Israel.
Ao longo dos séculos, personalidades de origem judaica mudaram a história do pensamento, da ciência e da cultura. Albert Einstein redefiniu a física moderna. Sigmund Freud abriu novos horizontes para a compreensão da mente humana. Jonas Salk erradicou a pólio. Franz Kafka, Leonard Cohen, Steven Spielberg, a lista é infindável e atravessa áreas que vão da literatura às artes, da música à filosofia.
O que seria da civilização contemporânea sem essas contribuições? Ignorar esse legado é mais do que injustiça histórica. É ceder ao obscurantismo. O antissemitismo, seja travestido de política diplomática ou de pseudo-progressismo, não é apenas uma afronta ao povo judeu. É um ataque frontal ao próprio humanismo.
Quando governos, como o do Brasil atual, se permitem acenos complacentes a grupos terroristas e fecham os olhos à violência que atinge sinagogas, escolas judaicas e cidadãos comuns, eles não apenas se colocam contra Israel, mas contra a própria memória civilizatória. Estamos diante de um dilema ético. Permanecer em silêncio diante do ressurgimento do ódio contra os judeus é permitir que as trevas do século XX se repitam. O mundo já viu até onde isso pode chegar. A questão é se teremos coragem de impedir a repetição da história. Governos que hoje preferem posar de “equilibrados” em fóruns internacionais serão lembrados amanhã não pela prudência, mas pela covardia e por se postarem ao lado de delinquentes que agem com sangue nos olhos.
A frase que foi pronunciada:
“O antissemitismo sofre mutações e, com isso, derrota o sistema imunológico criado pelas culturas para se protegerem do ódio. Houve três dessas mutações nos últimos dois mil anos (nas quais os judeus foram odiados por serem uma nação, odiados pelos cristãos como parte da doutrina da Igreja e odiados por serem supostamente racialmente inferiores), e estamos vivendo a quarta (o antissionismo).”
Rabino Lord Jonathan Sacks, 2009.

História de Brasília
Rebatemos as insinuações, porque custa-nos crer que homens de gabarito como o cel. Barlem e o dr. Valdir Santos participem de uma Comissão para não apurar a verdade. (Publicada em 10.05.1962)

