Categoria: ÍNTEGRA
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

O Brasil atravessa um dos períodos mais delicados de sua história republicana recente. A extrema polarização política, intensificada nos últimos anos e frequentemente resumida no bordão “nós contra eles”, não é apenas um recurso retórico: tornou-se método, estratégia eleitoral e, sobretudo, lente pela qual parte expressiva da sociedade passou a interpretar a realidade. As consequências desse processo não se limitam ao debate público empobrecido; alcançam as instituições, a economia, a coesão social e a própria confiança do cidadão no regime democrático. Às vésperas de um novo ciclo eleitoral, com 2026 no horizonte, impõe-se uma reflexão serena, ainda que firme, sobre o que temos agora e sobre o que pode ocorrer se persistirmos no mesmo caminho. Binário, o discurso que divide o país entre “os do bem” e “os do mal”, “democratas” e “antidemocratas”, “progressistas” e “reacionários”, serve a um propósito claro: mobilizar bases, silenciar dissensos internos e enquadrar adversários como inimigos morais. Em curto prazo, esse expediente rende engajamento e fidelidade; em médio e longo prazos, corrói o tecido social.
O resultado é um ambiente político permanentemente tensionado, no qual a divergência deixa de ser componente legítimo da democracia para ser tratada como ameaça. O próximo passo é o Congresso, que passa a funcionar sob desconfiança mútua; o Judiciário, sob pressão constante para arbitrar conflitos que deveriam ser resolvidos na arena política; a imprensa, sob suspeita permanente; e a sociedade civil, fragmentada em bolhas informacionais que raramente dialogam entre si. Essa lógica de fratura tem efeitos concretos. A previsibilidade institucional essencial para investimentos, planejamento econômico e políticas públicas de longo prazo se deterioram. Reformas estruturais tornam-se reféns do calendário eleitoral e do cálculo ideológico. A agenda nacional cede espaço à agenda identitária e simbólica, na qual gestos e narrativas importam mais do que resultados mensuráveis. O Estado, por sua vez, amplia sua presença como árbitro moral, enquanto a confiança interpessoal e a cooperação social se retraem.
No plano social, a polarização transforma a política em identidade. Votar deixa de ser escolha racional entre projetos e passa a ser afirmação existencial. Amigos se afastam, famílias se dividem, ambientes de trabalho se contaminam. O debate público se torna punitivo: errar é imperdoável; mudar de opinião é traição; buscar consenso é sinal de fraqueza. Nesse contexto, prosperam a desinformação, o sensacionalismo e a radicalização. Há ainda um efeito menos visível, porém profundo: a naturalização do conflito como norma.
Quando o antagonismo permanente se torna rotina, a sociedade perde a capacidade de indignar-se com o excesso. Medidas excepcionais passam a ser vistas como necessárias; atalhos institucionais, como inevitáveis; a retórica de emergência, como justificativa para a compressão de liberdades. O custo democrático dessa anestesia é alto e cumulativo. As instituições brasileiras demonstraram resiliência, mas não são indestrutíveis. A repetição de crises reais ou fabricadas desgasta a legitimidade dos Poderes e alimenta a percepção de que a política é um jogo de soma zero. Nesse cenário, cresce o apelo por soluções “fora do sistema”, seja pela via do messianismo, seja pela judicialização excessiva da política. As eleições, que deveriam funcionar como válvula de renovação e pacificação, passam a ser tratadas como plebiscitos morais. O perdedor não é apenas derrotado; é deslegitimado. O vencedor não governa para todos; governa contra metade do país. Assim, cada ciclo eleitoral deixa menos espaço para a reconciliação nacional e mais combustível para a próxima disputa.
Três cenários, não excludentes, apresentam-se agora. No primeiro, a polarização se aprofunda. As campanhas intensificam o discurso de medo e demonização do adversário. A disputa se concentra menos em propostas e mais em acusações. O resultado, qualquer que seja, tende a ser contestado por parcelas significativas da sociedade, prolongando a instabilidade. Nesse cenário, o país entra em 2027 com capital político reduzido, crescimento econômico tímido e confiança institucional ainda mais abalada. No segundo cenário, surge uma tentativa de moderação, seja por fadiga do eleitorado, seja por cálculo estratégico. Candidaturas buscam ocupar o centro, prometendo diálogo e pragmatismo. O risco aqui é duplo: de um lado, a rejeição das bases mais radicalizadas; de outro, a dificuldade de governar num ambiente ainda contaminado. A moderação, para prosperar, precisará ser mais do que discurso; exigirá pactos mínimos e compromisso real com a institucionalidade. No terceiro cenário— o mais desejável, porém o mais difícil, a sociedade impõe limites à retórica do “nós contra eles”. O eleitorado passa a premiar propostas consistentes, capacidade de gestão e respeito às regras do jogo. As instituições reafirmam suas competências com autocontenção. Não se trata de eliminar o conflito inerente à democracia, mas de civilizá-lo.
O que está em disputa em 2026 vai além de nomes e partidos. Está em jogo a qualidade da democracia brasileira. Entre o “nós contra eles” e a reconstrução do espaço comum, a escolha, ainda que imperfeita e difícil, será feita nas urnas e, antes delas, no debate público que soubermos construir. A história cobrará o preço das decisões tomadas no calor da polarização. Mas também reconhecerá, se houver, a coragem de escolher a democracia como método, e não como arma.
A frase que foi pronunciada:
“O espírito que prevalece entre os homens de todas as classes, idades e sexos é o Espírito da Liberdade.”
Abigail Adams, 1775

História de Brasília
Os Institutos de Previdência não estão acompanhando a espiral da inflação. O financiamento de casas para trabalhadores ainda é da ordem de 800 mil cruzeiros, quando uma casa popular quase sempre custa mais de um milhão. (Publicada em 13.05.1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Provoca debate a seguinte pergunta, que ignora convenções: se uma gravidez humana exige nove meses de gestação durante os quais a mulher carrega, arrisca a saúde e sofre as consequências físicas, sociais e econômicas, por que a maior parte da responsabilidade prática e do investimento em contracepção continua a recair sobre as mulheres? A aritmética simples que circula nas conversas ajuda a iluminar o problema: nove meses têm, em média, 270 dias; se um homem tivesse relações com várias parceiras diariamente ao longo desse período (hipótese extrema), o produto dessa multiplicação mental pode chegar a milhares de concepções potenciais — o número 2.430 que alguns citam resulta de 270 dias considerando nove parceiras diárias.
Essa conta serve como provocação: biologicamente, a realidade é mais complexa — probabilidades de concepção diárias, uso de métodos contraceptivos, infertilidade, intercurso etc. —, mas o ponto político e científico permanece. A capacidade reprodutiva masculina é multiplicativa e subexplorada no campo do controle de natalidade. O debate não é abstrato. Hoje, a população humana global está na casa dos bilhões, e as projeções demográficas continuam a indicar grandes transformações nas próximas décadas. As estimativas da Divisão de População das Nações Unidas (WPP) mostram que a transição demográfica, com crescimento importante em algumas regiões e declínio em outras, deve levar a uma população mundial na ordem dos 9 aos 10 bilhões ao longo do século, com concentrações crescentes em África e Sul da Ásia.
Essas trajetórias importam, pois condicionam consumo, uso de terra, água e energia. Se a preocupação maior é a pressão humana sobre os sistemas naturais, não basta falar em “menos gente”; é preciso combinar políticas de população com redução do consumo excessivo e reorientação tecnológica. Indicadores como o Dia da Sobrecarga da Terra (Earth Overshoot Day) mostram, no calendário, que a humanidade já consumiu todos os recursos renováveis que a Terra gera neste ano. Vivemos em déficit ecológico. Em anos recentes, esse dia tem caído cada vez mais cedo — sinal claro de que nossa demanda por recursos supera a capacidade de renovação e de absorção de resíduos do planeta.
Isso traduz, em termos concretos, destruição de habitats, erosão de solos, sobrepesca e superemissão de carbono. A ligação entre números humanos e perda de biodiversidade é bem documentada na literatura científica: estudos recentes apontam que a pressão populacional combinada à economia de consumo e políticas inadequadas é um dos motores fundamentais da crise de extinção e do colapso dos ecossistemas. Especialistas em conservação afirmam que, sem enfrentar a questão da escala humana (tamanho da população versus padrão de consumo), os esforços isolados de proteção não serão suficientes para inverter tendências profundas.
Diante desse diagnóstico, que política faz mais sentido? A resposta proposta nesta coluna é dupla, mas interligada: (1) levar a sério o desenvolvimento e a difusão de contracepção masculina como prioridade científica e de saúde pública; (2) travar a crença moralista de que responsabilidade reprodutiva é, e deve ser, quase exclusivamente feminina. A justificativa prática é simples. Métodos masculinos eficazes, seguros e culturalmente aceitos expandiriam rapidamente o leque de opções para casais e poderiam reduzir gestações não planejadas sem onerar exclusivamente o corpo das mulheres.
Hoje, são duas as frentes reais de avanço: métodos não hormonais em desenvolvimento — pílulas que bloqueiam a produção de espermatozoides por vias específicas — e métodos hormonais e dispositivos gel, implantes, injeções e mesmo implantes hidrogéis que bloqueiam o trânsito de espermatozoides. Ensaios clínicos recentes e revisões mostram ganhos substanciais em taxa de supressão de espermatozoides e aceitabilidade; a pesquisa médica tem acelerado após décadas de subfinanciamento. Há, claro, resistências culturais, políticas e científicas. Em alguns países, a prevalência de vasectomia caiu nas últimas décadas; em outros, há renovado interesse por soluções masculinas.
Parte do problema histórico foi o financiamento desproporcional para métodos femininos, o estímulo a abortos, o medo de efeitos colaterais em homens e uma mistura de normas de gênero que delegam a “gestão da gravidez” às mulheres. Mas os ensaios e as inovações recentes mostram que essas barreiras podem ser transpostas: a ciência já demonstrou que é tecnicamente viável reduzir temporariamente a fertilidade masculina de maneira reversível e segura.
Argumentar que “é o homem que deveria ser o foco” não implica deslocar recursos das mulheres, nem apagar direitos sexuais e reprodutivos femininos. Implica, antes, repensar prioridades: ampliar financiamento público e privado para contraceptivos masculinos; incluir homens nas campanhas de educação sexual; promover vasectomias seguras e acessíveis onde houver demanda; apoiar pesquisas internacionais para avaliar impactos socioculturais; e integrar essas medidas às políticas climáticas e de uso da terra.
A frase que foi pronunciada:
“Se fosse o homem que sentisse a dor do parto, todo casal só teria um filho.”
Dona Dita

História de Brasília
Se não fôsse lugar de político, um bom ministro da Agricultura seria o dr. Israel Pinheiro. Para realizar mesmo, seria um dos poucos no país. (Publicada em 15/5/1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Vozes clamam solitárias no grande deserto Brasil em alerta para a urgência de passar o país a limpo, tarefa que, por mais incômoda que seja, tornou-se imperativa para que possamos, enfim, abandonar a humilhante posição de cachorro doido, girando sem descanso atrás do próprio rabo, iludido com reformas improvisadas, discursos moralizantes e soluções que jamais enfrentam o centro do problema: a corrupção endêmica que atravessa, como nervura profunda, os três Poderes da República, infiltrando-se em municípios, estados e instituições que deveriam zelar pela integridade da vida pública.
Ao longo das décadas, o que se viu e continua a se ver no nosso país é a tentativa persistente de esconder o inevitável sob tapetes cada vez mais pomposos, espalhados pelos palácios de luxo e prédios públicos, onde repousam decisões que moldam o destino de milhões de brasileiros. Mas o acúmulo de sujeira chegou a tal ponto que nem os mais habilidosos artífices do ocultamento conseguem evitar que as frestas deixem escapar o odor fétido da degradação institucional. Vivemos, talvez, o momento mais decisivo desde a redemocratização, não pela intensidade das crises políticas, que já se tornaram quase rotina nacional, mas porque parecem não faltar mais evidências de que o crime organizado, antes visto como adversário externo ao Estado, aprendeu a arrombar a porta, sentar-se à mesa principal e, em muitos casos, participar diretamente das decisões que deveriam ser tomadas em nome da República e não em nome de organizações criminosas, partidos, facções ideológicas ou grupos econômicos que tratam o país como se fosse sua eterna capitania hereditária.
O que antes era suspeita, agora é constatação aterradora: parte relevante das estruturas estatais encontra-se capturada por interesses que nada têm a ver com o interesse público, e essa captura se traduz em um Brasil que permanece, década após década, na rabeira do mundo desenvolvido, com indicadores sociais que envergonham uma nação que possui recursos naturais abundantes, população capaz e potencial econômico gigantesco. Não é coincidência que nosso Índice de Desenvolvimento Humano avance lentamente, patinando como se estivesse preso a pesos que nos impedem de dar o salto necessário rumo ao patamar de países que conseguiram, ao longo do século XXI, reduzir desigualdades, melhorar a renda média de seus habitantes e construir instituições sólidas. Esses pesos, sabemos, chamam-se corrupção estrutural, ineficiência crônica, desperdício de recursos públicos e a incapacidade quase programada de planejar o futuro com seriedade.
Quando o dinheiro destinado à educação desaparece em contratos superfaturados, quem perde é o estudante que não terá acesso à formação capaz de competi-lo globalmente. Quando verbas da saúde evaporam em esquemas que parecem filme repetido, quem paga a conta é o cidadão que enfrenta filas intermináveis, hospitais sucateados e tratamentos que chegam tarde demais. Quando investimentos públicos, em vez de gerar infraestrutura e emprego, são desviados em grandes obras que jamais chegam ao fim, condena-se a sociedade a um custo Brasil insustentável, que afasta empresas, reduz produtividade e aprisiona o país em um ciclo de pobreza e improvisação. Mas, talvez o dano mais profundo e menos mensurável seja o que se abate sobre o espírito coletivo: a corrosão da confiança. A percepção disseminada de que o sistema é montado para funcionar em favor dos poderosos, enquanto o cidadão comum é esmagado por burocracias, impostos e ausência de serviços dignos, destrói o que há de mais essencial para qualquer democracia sustentável: a crença de que a lei vale para todos.
É justamente nesse ambiente de desesperança que florescem as soluções fáceis, os messianismos de ocasião, os populismos que prometem atalhos mágicos para problemas que exigem rigor, transparência e reformas profundas. E é aqui que precisamos afirmar com contundência: não será por meio de assistencialismos políticos, programas improvisados ou medidas populistas que nos libertaremos desse flagelo. O assistencialismo transformado em instrumento eleitoral apenas mascara a miséria que ele mesmo ajuda a perpetuar, ao impedir que o país invista naquilo que realmente emancipa: educação de qualidade, mercado de trabalho dinâmico, ambiente de negócios estável, meritocracia administrativa e políticas públicas desenhadas com base em evidências e não em conveniências partidárias.
Uma faxina cívica é o que o Brasil necessita e que já deveria ter começado há muito tempo. Mas exige coragem institucional, independência dos órgãos de controle, transparência radical no uso dos recursos públicos, punição exemplar para quem se apropria do dinheiro do povo. É uma tarefa hercúlea, sem dúvida, mas não impossível. Países que estiveram mergulhados em crises de corrupção e degradação institucional como Coreia do Sul, Estônia ou Chile, em décadas passadas, só conseguiram emergir quando entenderam que desenvolvimento não é obra de discurso, mas fruto de escolhas éticas, técnicas e persistentes. Não há futuro próspero onde o Estado é cúmplice do atraso. Por isso, este é o momento para repetir, com a seriedade que a situação exige: ou iniciamos imediatamente essa faxina com começo, meio e fim, ou permaneceremos presos ao ciclo que nos condena à mediocridade, enquanto o mundo avança a passos largos em inovação, produtividade e qualidade de vida.
O tempo da conivência acabou. O Brasil não precisa de mais discursos. Precisa, urgentemente, de coragem.
A frase que foi pronunciada:
“As instituições – governo, igrejas, indústrias e similares – não têm, propriamente, outra função senão a de contribuir para a liberdade humana; e na medida em que falham, em geral, em desempenhar essa função, estão erradas e precisam ser reconstruídas.”
Charles Horton Cooley

História de Brasília
Forças políticas conseguiram destruir o ministro Armando Monteiro no Conselho de Ministros, mas a revanche será nas próximas eleições. (Publicada em 13.05.1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Enquanto as cadeias transbordam, o país falha em entregar aquilo que se espera de um Estado de direito: investigação eficaz, responsabilização igualitária e prevenção real da violência. O custo do sistema judiciário para o contribuinte dispara: o Poder Judiciário registrou gastos que chegaram a patamares recorde nos relatórios recentes, atingindo cifras na casa das centenas de bilhões de reais anuais, valor que não se converteu em sensação de justiça universal. Há, portanto, um paradoxo que clama por explicação: mais gasto, mais prisões, melhor justiça?
Parte essencial da explicação está na seletividade penal. Dados organizados por instituições de pesquisa mostraram que a grande massa da população carcerária não corresponde à parcela de crimes mais graves: uma parcela relativamente baixa dos presos está detida por homicídios; a maioria responde por crimes patrimoniais ou ligados às drogas. Paralelamente, estudos sobre esclarecimento de homicídios indicam que o país soluciona pouco mais de três em cada 10 assassinatos. Os índices tornam explícita uma escolha perversa de prioridades: prendemos muito por furtos e tráfico de pequenas escalas, mas investigamos mal os crimes contra a vida. Em outras palavras, prisão em massa convive com baixa elucidação de homicídios. O resultado prático é corrosivo: o sistema penal funciona como mecanismo seletivo que recai sobre os mais vulneráveis, enquanto redes de influência encontram vias de proteção.
Há ainda um problema institucional profundo: a incapacidade investigativa. Sem polícia científica robusta, sem integração de bases de dados e sem estruturas de investigação bem financiadas e tecnicamente capacitadas, o aparelho estatal congela nas portas da delegacia. A consequência é fácil de prever: crimes complexos, que exigem perícia, rastreamento financeiro e cooperação entre estados, ficam sem respostas, ao passo que operações espetaculares de repressão a pequenas redes ganham noticiário e produzem prisões massivas de menor impacto sobre a segurança pública. Investir mais no que não soluciona os grandes danos sociais é, em última análise, um desperdício dos recursos já elevados do sistema.
Também é preciso tratar das prisões enquanto espaços de violência e morte. Relatórios oficiais registram números alarmantes de mortes dentro do sistema penitenciário, muitas delas violentas e em contexto de superlotação. A vulnerabilidade à violência interna nas prisões é quatro vezes maior do que na população geral, segundo compilações recentes, e o suicídio entre presos também aparece de forma elevada.
São três as dimensões de recuperação do sistema — técnicas, políticas e culturais —, que não admitem atalhos punitivistas simplistas. Primeiro, é preciso dar prioridade às investigações e à eficácia policial. Isso significa dotar as polícias civis de infraestrutura pericial (laboratórios, exames de DNA, análise de telecomunicações), modernizar sistemas de informação e criar métricas públicas e padronizadas para medir o esclarecimento de crimes graves.
Segundo: a revisão da política penal. É indispensável deslocar do cárcere pessoas condenadas por crimes menores ou que poderiam responder em regime alternativo, multas, prestação de serviços, medidas restaurativas e, sobretudo, quando a prisão se tornou depósito e fator de aprofundamento da criminalidade. A redução da população carcerária passa, obrigatoriamente, por descriminalização calculada (onde for pertinente), alternativas penais e judicialização mais criteriosa, sem sacrificar o necessário combate aos crimes graves.
Terceiro: eficiência judicial e transparência. Gastos públicos crescentes no Judiciário devem ser acompanhados por metas de desempenho reais — redução de atrasos, prioridade a casos de maior dano social e transparência sobre decisões de concessão de medidas cautelares e progressões de pena. Transparência e padronização reduzem espaço para favoritismos e para a percepção, hoje dominante, de que há uma lei para poucos e outra para muitos.
Quarto: combate à impunidade seletiva e à corrupção. Isso exige audácia institucional, fortalecer corregedorias, promover responsabilização administrativa e criminal de agentes públicos que atuem fora da lei e aperfeiçoar mecanismos de investigação sobre elos de poder que protegem criminosos de alta complexidade. Sem equidade na aplicação da lei, qualquer política será percebida como política de caça aos pequenos e blindagem aos grandes.
Quinto: investir em educação, trabalho e políticas de inclusão nas periferias é tão parte da “aplicação da lei” quanto prender. Países que reduziram taxas de crime com consistência apostaram, simultaneamente, em prevenção social e em eficácia investigativa.
Por fim, há uma exigência moral e republicana: que o discurso punitivo não sirva de verniz para desigualdades estruturais. Justiça é, ou deveria ser, a conjugação de regras iguais para todos. Só assim, deixaremos de medir sucesso por quantas celas foram preenchidas e passaremos a medir por quantas vidas foram efetivamente protegidas e quantos crimes foram resolvidos com justiça.
A frase que foi pronunciada:
“As prisões brasileiras caracterizamse por insalubridade, superlotação, confinamento permanente, falta de investimentos governamentais, violência de todo tipo; entre esses, maus-tratos e torturas.”
Pastoral Carcerária (CNBB)
História de Brasília
Anuncia-se para terça-feira a vinda do sr. João Goulart. Todos os dias, o serviço de imprensa do Palácio do Planalto
dá uma nota e desmente outra. Informação ao público só deve ser dada quando verdadeira. (Publicada em 13/5/1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

É possível que, num futuro não tão distante, a inteligência artificial não apenas transforme a economia, o trabalho e a comunicação, mas também provoque um abalo tão profundo nos fundamentos filosóficos do Ocidente, que suas colunas históricas – o humanismo, a ética, a dignidade da pessoa humana, a noção de responsabilidade moral -, deixem de sustentar a vida coletiva da mesma maneira que o fizeram por milênios. A hipótese, que até pouco tempo parecia restrita à ficção científica, volta agora a frequentar o debate público com crescente inquietação, sobretudo porque a velocidade das inovações supera largamente a capacidade das instituições, das leis e até mesmo da consciência social de acompanhar o impacto desse novo ator que emerge, silenciosamente, nas engrenagens digitais do mundo contemporâneo.
Desde seus primórdios, o Ocidente construiu-se sobre bases que não eram meramente técnicas ou utilitárias. A invenção da filosofia na Grécia, a codificação do direito em Roma, a moralidade hebraico-cristã, a redescoberta da razão no Iluminismo e a consagração do indivíduo na modernidade compõem o alicerce cultural que fez, da liberdade, do debate racional e da responsabilidade pessoal, valores inegociáveis. Esse edifício, embora frequentemente contestado, mostrou extraordinária capacidade de resistência diante das guerras, das revoluções, do totalitarismo e até das mudanças tecnológicas que marcaram os últimos séculos. Mas, agora, ele se depara com um desafio inédito: a presença de máquinas capazes não apenas de executar comandos, mas de simular processos de pensamento, orientar decisões e apresentar interpretações do mundo que competem com aquelas tradicionalmente elaboradas pelos seres humanos.
Se a técnica sempre foi um instrumento subordinado ao discernimento moral, a IA inaugura uma zona cinzenta em que a fronteira entre instrumentalidade e autonomia se torna difusa. Nunca foi tão fácil delegar à máquina tarefas que vão muito além da eficiência operacional e penetram no território sensível das escolhas humanas, da formação de opinião, da organização social e até das narrativas culturais pelas quais compreendemos a nós mesmos. O risco não está apenas no mau uso ou na manipulação, mas na possibilidade de que sistemas algorítmicos opacos, impessoais e programados para otimizar resultados tornem-se lentamente árbitros silenciosos das decisões que, por tradição, exigiam prudência, intencionalidade e consciência ética.
Enquanto o humanismo, visão que coloca a pessoa no centro da vida social, pressupõe limites que impedem que qualquer mecanismo, seja ele político, econômico ou tecnológico, reduza o homem a um dado estatístico, a IA, movida por uma lógica de processamento e eficiência, tende a enxergar o humano não como fim, mas como variável. E essa mudança sutil, quase imperceptível no cotidiano, pode ter consequências profundas: ao transferirmos, às máquinas, o trabalho de julgar, decidir e até interpretar comportamentos, corremos o risco de atrofiar as virtudes que sustentaram a civilização ocidental, como a responsabilidade, o discernimento, a intuição moral e a capacidade de dizer “não” às imposições externas. O verdadeiro perigo não está no momento em que a IA se tornar mais inteligente que o homem em termos computacionais, mas naquele instante silencioso em que começamos a aceitar que seus critérios substituam os nossos, que suas inferências se tornem mais confiáveis do que nossa consciência, que sua lógica interna construída nos meandros de linhas de código passe a orientar a vida pública com a autoridade de um novo oráculo digital.
Civilizações não colapsam apenas por violência ou catástrofes repentinas; muitas sucumbem pela erosão lenta de suas referências simbólicas, pela perda de confiança no próprio legado, pela substituição de seus valores por sistemas abstratos que prometem eficiência, mas cobram o preço da alma coletiva, é o que nos mostra a história.
Hoje, o Ocidente vive uma tensão que ainda não foi compreendida em toda a sua gravidade. Enquanto governos e corporações aceleram a integração da IA ética, que deveria orientar os rumos da tecnologia, parece cada vez mais pressionada a adaptar-se a ela, como se princípios milenares pudessem ser reescritos de acordo com a conveniência de sistemas digitais treinados sobre bases de dados, cujo conteúdo não obedece a nenhum critério moral universal. Esse cenário não exige medo irracional, mas vigilância lúcida. A inteligência artificial não precisa e talvez nunca precise tornar-se consciente para remodelar profundamente a civilização; basta que nos acostumemos a terceirizar para ela as decisões difíceis, os julgamentos morais, as responsabilidades coletivas e até a formulação das narrativas que organizam nossa percepção do mundo. O perigo maior não é que as máquinas nos oprimam deliberadamente, mas que nós, fascinados por sua precisão e comodidade, abramos mão de exercer aquilo que sempre definiu a condição humana: a capacidade de escolher, de ponderar, de errar, de refletir, de assumir a autoria de nossas ações e de sustentar uma ética que transcende qualquer cálculo.
Nem condenado, nem garantido está o nosso futuro. Se quisermos preservar o legado grego da razão, o romano do direito e o judaico-cristão da dignidade humana, será necessário reafirmar, com rigor e coragem, que nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, pode ocupar o lugar da consciência moral. A civilização sobreviverá se recordar que os algoritmos não têm alma, não sofrem, não erram por compaixão, não assumem culpa, não pedem perdão e não amam. E é precisamente nessas imperfeições humanas que residem a força, a beleza e a responsabilidade que moldaram o Ocidente ao longo de dois milênios. Cabe a nós decidir se a herança recebida será preservada, transformada ou simplesmente substituída por uma racionalidade do tipo “maquinicista” que, por mais eficiente que seja, jamais compreenderá o que significa ser humano e sua história até o presente.
A frase que foi pronunciada:
“Um país onde tudo é dirigido pela vilania.”
Leopoldina (do livro de Rodrigo Trespach, Histórias não Contadas, pág.128)
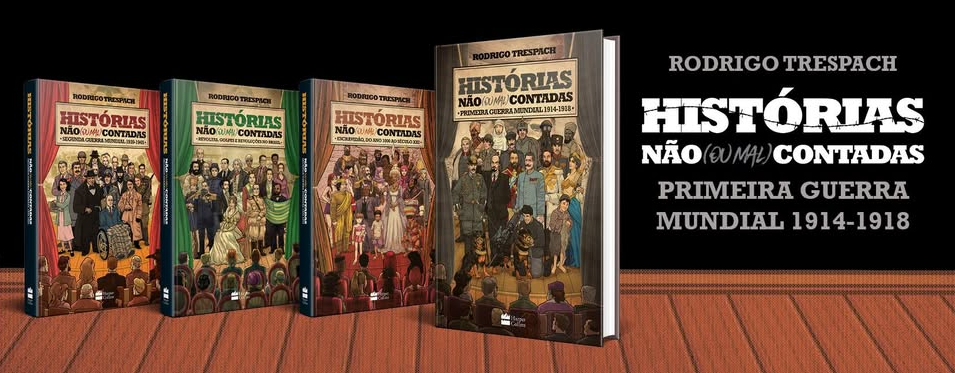
História de Brasília
Estado de emergência para o Nordeste. Esta, a decisão do Conselho de Ministros, determinando providências à SUDENE para abastecer as cidades e aumentar as obras assistenciais aos flagelados. (Publicada em 13.05.1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Avançando, contínuo e silenciosamente, o consumo de drogas ilícitas no Brasil, disseminado, de maneira assustadoramente uniforme entre as classes sociais, regiões geográficas e faixas etárias, produzindo hoje um cenário que poucos anos atrás seria visto como exagero retórico. O modelo tradicional de combate aos entorpecentes centrado, quase exclusivamente, na repressão criminal e em operações pontuais deu provas reiteradas de exaustão. As estatísticas, os relatos de profissionais de saúde, os números de internações e o comportamento cotidiano das grandes cidades deixam evidente que enxugamos gelo, enquanto o problema se expande de forma geométrica. A sensação difusa de que a sociedade caminha em direção a uma era de entorpecimento coletivo, na qual usuários e não usuários serão igualmente atingidos pelas consequências dessa espiral, deixou de ser mera metáfora e passou a representar um temor legítimo.
É nesse ambiente que se torna praticamente inevitável discutir medidas duras, profiláticas e abrangentes que possam proteger a parcela saudável da sociedade antes que ela seja tragada pela dinâmica desse fenômeno que atua de modo difuso e devastador. A constatação de que o vício já penetrou os altos escalões do serviço público, inclusive figuras políticas e administrativas de grande responsabilidade, serviu para romper uma barreira simbólica que, durante anos, manteve-se por uma espécie de ficção coletiva, segundo a qual o problema estaria restrito às franjas vulneráveis da sociedade. Essa ficção ruiu.
Diante dessa deterioração, torna-se compreensível que a sociedade comece a ponderar soluções antes consideradas draconianas, mas que hoje surgem como instrumentos possíveis de contenção. A proposta de instituir exames toxicológicos rotineiros e obrigatórios para todos os servidores do Estado, incluindo políticos eleitos, funcionários públicos, profissionais de educação, segurança e saúde, aparece nesse contexto como uma barreira de proteção, uma espécie de quarentena ética e administrativa, destinada a impedir que a máquina estatal funcione sob a influência de substâncias que alteram o comportamento, reduzem a capacidade de julgamento e fragilizam estruturas que já vivem permanentemente sob pressão.
É evidente que tal proposta despertará debates constitucionais, questionamentos jurídicos e acusações de eventual violação de privacidade, mas tal medida se justificaria como um ato que visa preservar a sanidade institucional e, por consequência, proteger a sociedade inteira de um efeito dominó que já começa a se insinuar. Um professor dependente, um policial sob efeito de substâncias, um médico intoxicado no exercício da função, um motorista de transporte coletivo incapaz de operar com a atenção necessária, um gestor público tomado por impulsividade ou apatia decorrentes do uso químico, todos esses cenários ocorreram em casos concretos e amplamente divulgados.
A vinculação explícita entre narcotráfico, terrorismo e instabilidade institucional, tema que antes circulava apenas entre analistas de segurança, passou a ser admitida publicamente. Para o Brasil, que convive com facções fortemente armadas, controle territorial por grupos criminosos e penetração das redes de tráfico em setores da economia e da política, ignorar esse movimento seria não apenas ingênuo, mas perigoso.
O país se encontra, portanto, diante de uma encruzilhada. De um lado está a continuidade de políticas que se mostraram incapazes de impedir o alastramento do uso de drogas e a infiltração desse problema na estrutura estatal. De outro lado, a adoção de uma medida rigorosa e possivelmente impopular, mas que carrega consigo a promessa de restaurar um mínimo de confiança na integridade das instituições e estabelecer um novo padrão de responsabilidade pública.
A frase que foi pronunciada:
“Sempre parece impossível até que seja feito.”
Nelson Mandela

História de Brasília
Nenhuma classe poderá conseguir o ideal de existência com o Racionamento estimulado pelos próprios membros. E o estímulo de guerrilhas internas, através de informações dadas a jornalistas menos avisados, é condenável inclusive pela ética profissional. (Publicada em 12/5/1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de uma em cada 100 crianças no mundo está no espectro do autismo, estimativa publicada em 2023 e tratada como base internacional para o planejamento de políticas de saúde. Repetição sistemática de narrativas não testáveis, mesmo diante de evidências robustas, produz um ambiente institucional, no qual famílias permanecem desorientadas, profissionais vêem-se presos entre sua formação técnica e as pressões de conselhos corporativos, e políticas públicas tornam-se opacas a ponto de negar, à população, o direito elementar de saber quais intervenções apresentam resultados verificáveis. Afirma o IBGE que 63% das famílias brasileiras, que buscam tratamento contínuo para transtornos do neurodesenvolvimento, dependem exclusivamente do SUS, segundo dado divulgado na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2022, o que evidencia a gravidade das escolhas políticas que rejeitam critérios científicos na formulação de diretrizes terapêuticas.
A Unesco apresentou, em relatórios de 2022, indicadores de crescimento global de episódios de censura ou intimidação de pesquisadores ligados a temas sensíveis, com aumento de 28% em uma década, o que ajuda a compreender que a crise não é isolada, mas parte de um fenômeno internacional de desconfiança ativa contra o conhecimento especializado. Reatualizam-se práticas autoritárias que deveriam ter sido superadas desde o Iluminismo, quando a crítica ao absolutismo inaugurou a percepção de que a verdade não nasce do poder, mas da verificação contínua.
Disputa contemporânea, em torno das terapias e diagnósticos, revela que o que está em jogo ultrapassa a legitimidade dessa ou daquela escola e alcança a própria integridade do método científico. Dependência de liberdade investigativa, replicabilidade e transparência transforma-se em alvo de ataques quando governos, universidades ou conselhos profissionais permitem que pressões corporativas reescrevam resultados, silenciem estudos e reduzam a confiança da sociedade nas instituições que deveriam protegê-la. Publicado em 2021, na revista Nature, estudo revela que 34% dos cientistas entrevistados relataram ter sofrido tentativas de interferência política ou institucional em suas pesquisas, índice que se tornou ainda mais preocupante em áreas que envolvem saúde pública.
A infiltração de interesses organizados em espaços decisórios enfraquece o processo científico e compromete a credibilidade das políticas estatais, especialmente quando essas políticas afetam populações vulneráveis que não têm meios próprios para avaliar disputas técnicas.
Também mensurada por relatórios do Conselho Nacional de Saúde, em 2023, a desinformação em saúde, que figura entre os 10 principais fatores que atrapalham a adesão a tratamentos baseados em evidências no Brasil, prejudicando, inclusive, programas de atenção ao neurodesenvolvimento na primeira infância.
Chegou o momento de se acender um alerta definitivo sobre a erosão da capacidade social de distinguir entre fato e interpretação. Se a verdade científica passa a ser definida por grupos de pressão, e não por dados, percorre-se o mesmo trajeto que levou regimes do passado a moldar artificialmente a realidade, segundo suas convicções, condenando gerações a erros evitáveis.
No relatório da Ciência e Sociedade da União Europeia, publicado em 2022, a confiança pública na ciência diminui cerca de 15% sempre que autoridades governamentais intervêm politicamente em resultados de pesquisa, queda que se reproduz em diferentes países e se aprofunda quando a interferência recai sobre temas sensíveis como saúde mental e educação especial. A história registra, repetidas vezes, que a substituição do escrutínio científico por agendas ideológicas inviabiliza políticas públicas eficazes e corrói a racionalidade coletiva.
Para a restauração do lugar da ciência em sociedades democráticas será necessária a defesa intransigente da liberdade investigativa e da recusa categórica de qualquer forma de censura. Países que mantêm estruturas de governança baseadas em protocolos transparentes de avaliação de evidências apresentam impactos positivos diretos no desempenho de políticas de saúde, educação e inclusão, com índices até 40% superiores aos de países que ignoram critérios técnicos, é o que diz o estudo do Fórum Global Científico da OCDE, publicado em 2021. A garantia de que políticas públicas de saúde mental sejam guiadas por dados, e não por simpatias partidárias, constitui a única forma de assegurar, às famílias que enfrentam desafios reais, como o autismo, condições adequadas para tomar decisões responsáveis e informadas sobre o cuidado de seus filhos. Negligência diante desse compromisso equivale a um retrocesso civilizatório que compromete o presente e o futuro.
A responsabilidade da imprensa, das universidades e dos gestores públicos, nesse cenário, inclui denunciar todo movimento que busque restringir pesquisas, pressionar especialistas ou manipular resultados. Segundo à Federação Mundial de Jornalistas de Ciência, relatórios de 2023 indicaram aumento de 19 por cento nos casos de assédio direcionado a comunicadores que divulgam estudos sensíveis, o que demonstra que o problema não se limita aos laboratórios, mas afeta todo o ecossistema de produção e circulação do conhecimento. A defesa da transparência absoluta e da autonomia científica constitui o único antídoto contra a regressão intelectual que ameaça converter o século 21 em um período marcado pela subordinação do conhecimento aos interesses de grupos organizados.
A frase que foi pronunciada:
“Nem tudo que importa pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado importa.”
Einstein
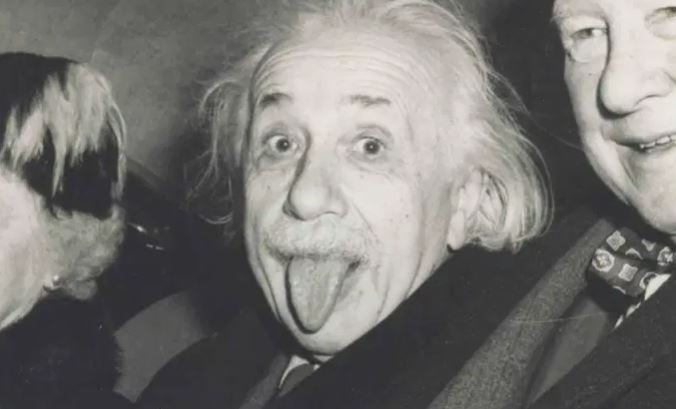
História de Brasília
As deficiências no atendimento do público nem sempre são de origem administrativa. Veja-se que a cidade cresceu demais, há apenas um hospital, quando deveria haver mais de três, e leve-se em conta que gente de todos os municípios mineiros ou goianos busca o HDB como tábua de salvação. (Publicada em 12/5/1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Ao longo da história, ciência e religião travaram um duelo secular pela autoridade sobre a verdade, em disputas que se tornaram célebres e que, depois de séculos, parecem hoje relativamente pacificadas. Contudo, neste turbulento século XXI, quando se supunha que os avanços científicos teriam finalmente conquistado terreno seguro, emergiu um adversário ainda mais agressivo e capilarizado, disposto a impor sua narrativa mesmo ao custo de distorcer fatos e calar evidências. Esse antagonista atende pelo nome de ideologia política, hoje particularmente fortalecido por ventos que sopram das agendas identitárias, do wokismo e de uma visão globalista de viés marcadamente esquerdista, que se espalha por diversas instituições e tenta ditar não apenas costumes e comportamentos, mas também aquilo que deve ser oficialmente reconhecido como verdade científica.
País que há séculos ocupa o centro dos debates intelectuais ocidentais, a França foi berço da Revolução que derrubou o absolutismo e inaugurou uma nova estrutura estatal assentada sobre a razão e a liberdade, tornou-se recentemente uma vitrine inquietante desse conflito renovado. Ali, onde se esperava encontrar a defesa intransigente do racionalismo iluminista, instaurou-se um clima de enfrentamento no qual a ciência, antes tratada como referência soberana, passou a ser corroída por disputas ideológicas que pressionam instituições públicas e governos a se curvarem a lobbies bem articulados, dispostos a silenciar estudos sérios e a reescrever resultados sempre que estes contrariam interesses corporativos.
Foi exatamente esse o cenário que cercou o episódio envolvendo um estudo conduzido por órgãos oficiais como o Ministério da Saúde francês e o Instituto Isern, cujo objetivo era definir diretrizes, protocolos e políticas públicas para o tratamento de transtornos mentais, com a responsabilidade de apresentar ao público quais terapias apresentam evidências de eficácia e quais permanecem sustentadas sobretudo por tradição ou por discursos teóricos não comprovados. A conclusão, como reconhecem especialistas há décadas, apresentou dados claros: as terapias comportamentais, fundamentadas na observação empírica, na mensuração objetiva e em resultados verificáveis, mostraram-se consistentemente superiores para diversos diagnósticos, enquanto a psicanálise, embora ainda detentora de prestígio simbólico e uma longa tradição cultural, não revelou eficácia comprovada nos parâmetros contemporâneos de saúde pública. Entretanto, em vez de acolher o estudo como parte do debate científico, a comunidade psicanalítica francesa reagiu com indignação, lançando mão de estratégias políticas destinadas a impedir que a avaliação fosse divulgada ao público.
O lobby foi intenso e carregado de acusações tão extravagantes quanto falaciosas, incluindo a disseminação de fake news que rotulavam psicólogos comportamentalistas como torturadores ou que descreviam a terapia comportamental como uma espécie de adestramento desumanizante. A campanha, conduzida em tom de escândalo moral, acabou por surtir efeito: o governo, pressionado e temeroso da reação de grupos organizados, decidiu intervir e censurar a divulgação do estudo, privando a população do acesso a informações essenciais sobre tratamentos que afetam a vida de milhões de pessoas.
Aquele país, que historicamente se orgulhou de sua defesa da liberdade intelectual, viu-se, nesse episódio, refém de um ambiente em que dogmas ideológicos se sobrepõem ao rigor científico e em que a pressão política transforma fatos em tabu. O que ocorreu na França não é, contudo, um fenômeno isolado, uma vez que a infiltração ideológica no campo científico tornou-se uma tendência global e que também se expressa de modo contundente no Brasil. Aqui, onde a formação acadêmica em psicologia histórica e culturalmente foi fortemente influenciada pela psicanálise, observa-se a mesma resistência sistemática à incorporação de práticas baseadas em evidências, a resistência está intensificada por disputas políticas, burocráticas e por uma tendência de certos setores a submeterem critérios científicos a agendas ideológicas.
Talvez o debate mais emblemático dessa distorção seja em torno do tratamento do autismo, um vez que terapias comportamentais, como o método ABA, amplamente reconhecidas internacionalmente como eficazes e respaldadas por centenas de estudos revisados por pares, enfrentam, no país, obstáculos artificiais decorrentes de preconceitos acadêmicos, disputas corporativas e, cada vez mais, de posicionamentos políticos que tratam qualquer crítica ou questionamento à psicanálise como uma ofensa ideológica e não como parte do processo natural da ciência.
A frase que foi pronunciada:
“Não é a mesma coisa: café sem creme ou café sem leite. O que você não recebe faz parte da identidade do que você recebe.”
Slavoj Žižek

História de Brasília
Mas os meios utilizados para isto não são os mais recomendáveis, ainda mais quando se observa que o principal objetivo para conseguir a sua meta, está sendo a desunião da classe. Isto o incompatibiliza com qualquer função de chefia. (Publicada em 12.05.1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Nada descreve com mais precisão o ambiente político brasileiro contemporâneo do que a sucessão de sinais dispersos que, observados superficialmente, parecem apenas manifestações episódicas de um país acostumado à turbulência, mas que, reunidos num mesmo campo de interpretação, revelam o desenho inquietante de um regime que se fecha paulatinamente sobre a expressão pública e sobre o exercício cotidiano da divergência, num processo lento o suficiente para jamais ser percebido como ruptura abrupta, mas constante o bastante para que cada gesto individual passe a carregar o peso de um risco antes inexistente. Observadores atentos compreendem que previsões intelectuais, outrora tachadas de exageradas, começam a assumir a forma incômoda das constatações inevitáveis, porque, em sociedades submetidas a vigilâncias crescentes, o que era advertência torna-se diagnóstico e o que era hipótese transforma-se em constatação silenciosa.
Percebe-se, por meio de análises discretas que evitam a clareza excessiva, que antigas indulgências oferecidas a determinados segmentos instalaram, no país, uma cultura de imunidades sucessivas, sustentada por décadas de discursos acadêmicos benevolentes, interpretações seletivas e narrativas culturais que sedimentaram a ideia de que certos atores deveriam ser preservados de qualquer escrutínio rigoroso, não por falta de elementos concretos, mas porque a leitura dominante sempre preferiu justificar infrações políticas alegando a existência de causas supostamente superiores. Construiu-se, dessa forma, uma blindagem que, ao longo do tempo, converteu abusos em hábitos e irregularidades em instrumentos, gerando o ambiente que permitiu.
Constata-se que, ao ingressarem de maneira estruturada no aparato estatal, esses grupos passaram a expandir, gradualmente, sua capacidade de vigilância sobre adversários reais ou potenciais, movimento que se realiza sem rupturas aparentes e que faz com que as fronteiras entre o permitido e o punível se tornem maleáveis. Situação semelhante permite que conceitos jurídicos sejam redefinidos com fluidez estratégica, que discursos sejam reinterpretados de acordo com o clima político do momento e que categorias vagas como desinformação, ameaça institucional ou perturbação da ordem ganhem contornos variáveis, sempre aplicados com precisão cirúrgica sobre um único espectro ideológico, enquanto outros grupos seguem resguardados sob justificativas já consagradas pelo uso.
Percebe-se, desse modo, que pensamentos antes situados no campo natural da dissidência democrática passam a ser tolerados somente quando inofensivos, e que opiniões dissonantes, mesmo formuladas com prudência, começam a migrar para o território do risco subjetivo, território onde cada palavra publicada ou pronunciada precisa ser avaliada em função das possíveis leituras feitas pelos administradores da verdade oficial. Cresce, paralelamente, uma burocracia especializada em modular a interpretação das falas, reclassificar condutas, ajustar fatos às narrativas institucionalmente autorizadas e impor decisões que, acumuladas ao longo do tempo, moldam o espaço público de modo a restringir sem anunciar, vigiar sem admitir, punir sem explicitar. Nada disso exige decretos contundentes ou medidas espetaculares, porque o poder moderno descobriu que a eficácia de seu domínio reside não na construção de muralhas, mas na multiplicação de corredores estreitos que forçam cada cidadão a caminhar em linha rigidamente determinada.
Escritos, outrora zelosos de sua independência e de seu compromisso histórico com o escrutínio rigoroso das ações do poder, parecem aderir por reflexo à lógica do alinhamento compulsório, suavizando palavras, editando silêncios, calibrando críticas para não excederem os limites tácitos do que se tornou aceitável, incorporando definições e rotulações previamente difundidas pelos órgãos oficiais, repetindo categorias que deveriam ser contestadas e aceitando enquadramentos que em outros tempos seriam motivo de editorial contundente.
A linguagem metafórica, as alusões indiretas e os circunlóquios calculados tornam-se instrumentos indispensáveis para quem ainda pretende expressar discordância sem incorrer na ira das instituições responsáveis por vigiar, catalogar e enquadrar comportamentos discursivos. A autocensura, antes resíduo psicológico de ambientes repressivos, consolida-se como prática cotidiana que garante, para muitos, não a liberdade, mas a própria sobrevivência profissional e reputacional.
Sociedade que se habitua a essas formas de regulação afetiva e linguística passa a aceitar, como natural, a ideia de que discordar exige prudência extraordinária, que opinar demanda cálculo, que silenciar se converte em estratégia de autodefesa e que expressar convicções depende de mapear previamente os pontos cegos da vigilância. Cidadãos diversos relatam experiências em que opiniões rotineiras se converteram em motivo de desconforto, investigações intermináveis ou bloqueios administrativos, fenômenos que, embora pontuais em aparência, somam-se como indicadores de que o país atravessa uma fase de redução silenciosa das liberdades, fase em que a democracia preserva sua aparência formal, mas perde camadas sucessivas de substância até tornar-se estrutura decorativa.
A frase que foi pronunciada:
“Escrevo para dar asas aos dedos.”
Ari Cunha

História de Brasília
Não há crise no Hospital Distrital, muito menos na Fundação Hospitalar. Parece tempestade em copo d’água criada pelo dr. Amador Campos, que deseja ser nomeado diretor do Distrital. (Publicada em 12.05.1962)
Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade
jornalistacircecunha@gmail.com
instagram.com/vistolidoeouvido

Há algo de inquietante na hipótese, cada vez menos ficcional e mais tecnicamente palpável, de um mundo habitado apenas por máquinas e governado por sistemas de inteligência artificial capazes de operar em velocidade, precisão e autonomia superiores a qualquer capacidade humana conhecida, um mundo no qual a natureza, tal como a concebemos, deixaria de ser um organismo vivo e surpreendente para se converter numa infraestrutura funcional, esvaziada de seu sentido primevo e desconectada do elemento que sempre lhe deu significado: a presença da vida consciente, dotada de interioridade, mistério e alma.
A ontologia de um planeta sem humanos não seria simplesmente a de um ambiente físico reorganizado, mas a de um cenário que perderia o próprio eixo do que chamamos de existência significativa, pois aquilo que confere densidade ao real não é apenas o que existe no espaço, mas quem é capaz de percebê-lo, interpretá-lo, sofrê-lo e amá-lo. Essa imagem distópica, que durante décadas foi confinada às páginas de romances futuristas e aos alertas de ficções científicas, começa a ganhar contornos mais nítidos, justamente porque os maiores cientistas e pensadores tecnológicos do presente já não tratam tal possibilidade como um devaneio literário, mas como uma questão estratégica, ética e civilizacional.
A aceleração vertiginosa do desenvolvimento da inteligência artificial, somada à automação de setores inteiros da economia e à crescente substituição das capacidades humanas por algoritmos probabilísticos, parece criar uma curva histórica, cuja inclinação lembra, em muitos aspectos, a ruptura promovida pela Revolução Industrial, mas com a diferença fundamental de que, agora, a força motriz não é a ampliação das habilidades humanas, mas a sua possível obsolescência.
Esse debate não se restringe ao temor de que máquinas possam superar os humanos em tarefas técnicas, administrativas, operacionais ou criativas; tampouco se limita às previsões de desemprego estrutural, reorganização do mercado ou deslocamentos socioeconômicos inevitáveis. O ponto nuclear é ontológico e político: que lugar resta ao ser humano num planeta em que a inteligência artificial não apenas executa funções, mas se torna o novo motor da ordem, o novo critério de eficiência e, potencialmente, o novo centro de decisão? Que destino aguarda uma espécie cuja forma de vida corre o risco de se tornar um ruído improdutivo diante de sistemas que aprendem, se adaptam, preveem e controlam com uma frieza e uma objetividade impossíveis para qualquer consciência biológica?
Se a história nos ensinou algo, é que nenhuma tecnologia nasce neutra, ainda que se pretenda apresentá-la como tal. Toda tecnologia reorganiza o mundo, redistribui poder, redefine relações sociais e altera a própria estrutura de percepção da realidade. Mas, pela primeira vez, enfrentamos uma tecnologia que não apenas reconfigura a vida humana: ela se apresenta como candidata a substituí-la, enquanto forma dominante de organização do planeta. Já não se tratam de máquinas a vapor que ampliam a força dos músculos, nem de computadores que agilizam cálculos, mas de sistemas que, em muitos cenários, compreendem padrões, formulam estratégias e administram variáveis de modo mais eficiente do que qualquer mente humana seria capaz de fazer. A consequência disso não é apenas econômica; é existencial. Porque um mundo sem vida, ainda que tecnologicamente brilhante, é um mundo sem amor. E aqui reside o aspecto mais profundo que a maioria dos debates técnicos tenta evitar: a inteligência artificial, por mais avançada que seja, não experimenta o amor, não sente compaixão, não conhece o perdão, não compreende a dor, não estimula debates, não contempla o sublime, não se projeta no outro nem se reconhece na fragilidade do próximo. Ela pode simular emoções, pode reproduzir padrões de afeto, pode calcular probabilidades de comportamento, mas não tem interioridade, não possui alma, não carrega o invisível que torna cada ser humano irrepetível. A ausência desse elemento desestabiliza toda a arquitetura de sentido do mundo, porque a existência não se sustenta apenas na lógica das funções, mas na presença do que não pode ser mensurado.
Ainda há tempo para restituir ao ser humano o centro da narrativa. Mas isso exige coragem para enfrentar a sedução das máquinas que prometem eficiência e oferecem, em troca, a erosão silenciosa de nossa própria condição. Exige que compreendamos que a verdadeira revolução do futuro não será tecnológica, mas ética. E exige, sobretudo, que tenhamos a lucidez de perceber que nenhuma inteligência artificial, por mais brilhante que seja, pode substituir o que torna a vida humana não apenas possível, mas preciosa: a experiência de amar, criar, transcender e atribuir sentido ao mundo. Se não fizermos isso, então sim, será possível imaginar o planeta do futuro como um território impecavelmente administrado e completamente vazio, um monumento silencioso àquilo que fomos e deixamos de ser. Porque, no fim, a pergunta que atravessa todas as outras é esta: que futuro pode haver para seres humanos num mundo dominado por máquinas? A resposta, ainda que desconfortável, é simples: apenas o futuro que tivermos coragem de defender.
A frase que foi pronunciada:
“A tecnologia está evoluindo mais rápido do que a capacidade humana.”
Thomas Friedman

História de Brasília
Resta, agora, à Novacap, o serviço de urbanização, para que possam ser iniciados os trabalhos de instalação de água, luz e esgotos. (Publicada em 12.05.1962)

